

Volume 22 - Novembro de 2017
Editor: Giovanni Torello
  Volume 22 - Novembro de 2017 Editor: Giovanni Torello |





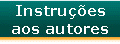


|
Junho de 2012 - Vol.17 - Nº 6 Psicologia Clínica CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS SOBRE O DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO A PARTIR DE UMA ATITUDE CONSTRUCIONISTA SOCIAL Braz Dario Werneck Filho Resumo O objetivo deste trabalho é tecer algumas considerações sobre o diagnóstico psicopatológico. Consideramos este tema relevante por causa da frequente discussão da qual participamos no meio acadêmico sobre a forma como é visto o diagnóstico psiquiátrico e seus efeitos na pessoa e na família que o recebe. Para ilustrar esta discussão trazemos um caso clínico em terapia familiar, onde as questões da relação com o diagnóstico apareceram e se revelaram muito importantes para o tratamento. A partir de uma atitude construcionista social, perguntamo-nos se é possível que o diagnóstico psicopatológico seja encarado por pacientes e profissionais como um elemento integrante do tratamento, sem que deva ser bom ou ruim a priori. Propomos que, a partir de uma atitude construcionista, o profissional pode atentar para as dimensões histórica e cultural que compõem o processo diagnóstico e considerá-las em sua avaliação, tornando, consequentemente, o diagnóstico mais eficaz.
Descritores: diagnóstico psicopatológico, construcionismo social, terapia familiar. Tenho observado e participado diariamente do encontro que acontece entre uma família ou um paciente que recebe ou está a ponto de receber um diagnóstico psiquiátrico e um terapeuta que aborda esse assunto a partir de uma perspectiva construcionista social. Daí o interesse em aprofundar esta discussão como principal objetivo deste trabalho. Como se dá o encontro entre a pessoa diagnosticada com ou sem sua família[1] e a pessoa que trabalha com uma postura construcionista? Que articulações construcionistas serão possíveis em situações onde o diagnóstico se apresenta como elemento de significação influente na vida do paciente e da família? Como fazer para que paciente e família possam construir diálogos ampliadores para suas vidas, na sua relação com o diagnóstico? Que ideias já existem e que ideias podemos construir sobre a função do terapeuta nesse contexto? Faz-se aqui a apresentação resumida de um histórico do diagnóstico e da classificação em Psiquiatria. Entendemos que seja importante contextualizar o próprio diagnóstico psicopatológico como um processo influenciado pela história e pela cultura. Faremos também algumas reflexões sobre dificuldades encontradas no campo da Psiquiatria quando o tema engloba o diagnóstico e o tratamento psiquiátricos. Depois, um exemplo clínico para melhor visualização de tais articulações, procurando situar clinicamente as ideias aqui apresentadas, como a questão da objetividade colocada entre parêntesis, a função do terapeuta como colaborador, em vez de detentor do saber, a importância da linguagem na construção do ambiente clínico e de todas as concepções que surgem nesse ambiente e a importância da relação estabelecida entre terapeuta e famílias ou pacientes de terapia individual. Diagnóstico e tratamento da “Loucura” No trabalho terapêutico, seja na psicoterapia individual ou na terapia familiar, deparamo-nos amiúde com o diagnóstico psiquiátrico. É um elemento que chega muitas vezes como se fosse mesmo um membro da família, tal a importância que costuma ocupar nas relações interpessoais. Na Psiquiatria, o diagnóstico aparece como um dos elementos essenciais. É apontado como seu instrumento mais importante (Dalgalarrondo, 2000). Apesar disso, por não ter sido alcançado um consenso científico ainda hoje acerca das causas dos transtornos psiquiátricos, o diagnóstico psiquiátrico é levado a problemas em sua formulação quanto à etiologia dos transtornos (Kaplan & Sadock, 2007). É importante ressaltar também que o diagnóstico psiquiátrico apresenta uma dificuldade a mais em relação ao diagnóstico das doenças físicas que é a falta de critérios externos de validação, como, por exemplo, testes laboratoriais (ibidem). Podemos entender, a partir desse pensamento, que o processo diagnóstico na Psiquiatria seja permeado pela subjetividade e pela complexidade humana, que vem sendo cada vez mais considerada nas produções científicas. Considerando que o diagnóstico e todas as dificuldades que acompanhem o processo estejam atrelados às concepções sobre o tratamento concedido à “Loucura”, aos desvios, à doença mental, um dado histórico importante é o advento da medicação como tratamento alternativo ao modelo asilar. A partir da introdução de medicamentos no tratamento psiquiátrico – como o Lítio, utilizado por Cade em 1949; a clorpromazina, utilizada em 1952 por Delay e Deniker; a síntese do haloperidol, por Janssen, em 1958 – uma mudança crucial ocorreu no tratamento em termos gerais (Louzã, Elkis e cols, 2007). A psicocirurgia, procedimento que tinha alcançado seus dias de glória ao fim dos anos 1940, foi perdendo espaço até ser abandonada. A partir dos medicamentos, as questões contra esse procedimento se acirraram, principalmente por causa das consequências provocadas na personalidade dos pacientes que eram submetidos a uma cirurgia desse tipo. Nos anos 1950, a psicocirurgia começou a ser efetivamente abandonada pelos especialistas por questões de cunho ético (ibidem). Acreditamos que esse tipo de preocupação ética com os pacientes psiquiátricos seja um dos fatores que possa ter contribuído para a mobilização social e política em torno da questão do tratamento psiquiátrico ocorrida nas décadas seguintes. Outro fator que devemos considerar vem dos estudos de Foucault, que parecem ter influenciado as concepções críticas do modelo utilizado pela Psiquiatria para o tratamento dos ‘doentes mentais’. Foucault nos traz a discussão sobre a relação com a Loucura em várias épocas, e comenta sobre o asilamento como questão presente às vésperas da Revolução Francesa. Em suas palavras:
Os reformadores de antes de 1789 e a própria Revolução quiseram ao mesmo tempo suprimir o internamento como símbolo da antiga opressão e restringir na medida do possível a assistência hospitalar como sinal da existência de uma classe miserável. Procurou-se definir uma fórmula socorros financeiros e de cuidados médicos com os quais os pobres pudessem beneficiar-se em sua própria casa, escapando assim ao pavor do hospital. Mas os loucos têm isto em particular: restituídos à liberdade, podem tornar-se perigosos para sua família e o grupo no qual se encontram. Daí a necessidade de contê-los e a sanção penal que se inflige aos que deixam errar “os loucos e os animais perigosos” (2000; p, 81).
Desse modo, principalmente a partir dos movimentos associados a Franco Basaglia, a questão do tratamento psiquiátrico ultrapassou os limites da esfera clínica, passando a ser vista como um problema social, ideológico e político. A estrutura do tratamento dispensado aos sujeitos nos hospitais psiquiátricos foi duramente criticada por Pirella:
A realidade do hospício constituía – e continua constituindo, em grande parte – uma estrutura punitiva muito eficiente, com laivos de horror que nem sempre são evocados. (...) A violência nua e a manifesta opressão das instituições psiquiátricas não se coadunam com os propósitos científicos da terapia, da reabilitação. (...) É sabido que a intenção punitiva pode ser identificada na transação que se realiza entre os elementos passivos e os ativos envolvidos no tratamento; o fato de que, nos hospitais psiquiátricos se diga, por exemplo: “Se você não ficar quieto eu te aplico uma injeção” (...) significa, com absoluta legitimidade, a presença de uma dinâmica real de opressão encoberta por ingênua ideologia médica. A queda em desuso de “terapias” como a piretoterapia[2], o choque cardiazólico[3] etc., vem demonstrar o significado evidentemente punitivo que hoje já não pode aceitar aquele que pretende substituí-lo por uma outra atitude que disfarce a violência de maneira mais sutil. (in Basaglia, 1968/2001; p. 177).
Nesse contexto, a família começou a aparecer como passível de tratamento, posto que os egressos de internações retornassem a suas casas para o tratamento e voltavam a interagir em família. O ambiente onde se criticava o tratamento dedicado à Loucura parece ter sido o solo fértil para o movimento que pode ter suas origens nas ideias de Foucault, Basaglia e Pirella entre outros e se convencionou chamar de Reforma Psiquiátrica. Assim, encontramos atualmente um ambiente que divide opiniões mesmo dentro da classe psiquiátrica. As questões políticas são notórias, as argumentações intermináveis e a polêmica crescente. A crítica também desponta contra a aparente ideia de que a Psiquiatria tenha sido o algoz da Loucura durante toda a história. Nas palavras de Piccinini: A História da Loucura não é a História da Psiquiatria, embora muitas correntes tentem distorcer o fato que a Psiquiatria nasceu de um esforço de muitos pesquisadores em tentar entender, tratar e alterar o curso da Loucura e do sofrimento que ela causa. Há um sofisma repetido constantemente por historiadores, ideologicamente comprometidos, que a psiquiatria foi responsável pelo asilamento dos doentes mentais, com objetivos escusos. Daí as afirmações de que os psiquiatras eram torturadores, destruidores da mente dos insanos, foi apenas conseqüência. Não custa lembrar que os doentes já existiam antes de existir a psiquiatria. A Cena Inaugural da psiquiatria é a da libertação dos doentes mentais das correntes que os prendiam. Pinel propôs a observação, o reconhecimento dos doentes, o estabelecimento de um diagnóstico e um tratamento visando à recuperação dos que estavam afetados pelo mal. Seu tratamento moral, na verdade era assistência psicológica, cuidados humanitários, resgate da cidadania e a chance de voltar para casa. A lei de 1838, na França, foi um marco na proteção das pessoas portadoras de sofrimento psíquico, como hoje se tornou politicamente correto chama-las. A idéia de um local protegido e dedicado à recuperação não funcionou por vários motivos. Houve uma avalanche de internações, os recursos escassearam, o pessoal auxiliar foi se tornando escasso e cada vez menos preparado e as conseqüências todos já sabem. Os asilos viraram depósitos de pessoas que ninguém queria. Dentro deles foi se formando essa nova especialidade médica que chamamos psiquiatria, que passou a modificá-los de dentro para fora. Os asilos se transformaram em hospitais, novos tratamentos surgiram, o tratamento foi levado para fora dos muros asilares e dos hospitais. As críticas à ação psiquiátrica se tornaram mais hostis e o debate incendiou-se. (2006, p. 03).
Embora possa parecer uma fuga ao tema proposto, defendemos esta explanação sobre a Reforma Psiquiátrica baseados em duas premissas. Primeiramente, reconhecemos a polêmica como um elemento incontestável na prática clínica de nossa época. Não há como trabalhar em saúde mental sem que se discuta a questão do modelo asilar e das novas políticas de saúde mental. Em segundo lugar, é neste ambiente que nossas práticas discursivas atuais são construídas e modificadas. Tudo o que fizermos na prática e tudo o que produzirmos no meio acadêmico, segundo a imersão contextual proposta pelas ideias construcionistas, estará influenciado pelo tema que se abordou neste capítulo. Dimensões histórica e cultural Para este trabalho, trazemos discussões acerca do diagnóstico psicopatológico e dos efeitos que ele provoca na clínica, procurando a possibilidade de se fazer dele um aliado para o tratamento na terapia familiar e também na terapia individual. Além disso, acreditamos que o posicionamento do profissional que adota a postura construcionista social promova uma relação diferente com a questão do diagnóstico psicopatológico e sua utilização. Consideramos que a postura construcionista social, por parte do terapeuta, ofereça um campo relacional não dialético, onde a dicotomia certo/errado dê lugar a propostas discursivas diferentes dos procedimentos que o objetivismo e o pragmatismo cientificista nos oferecem. De acordo com as ideias de Danziger (1990); Luria (1971); Gergen (1973/1975):
Se alguém aborda essas questões de uma perspectiva pós-moderna e construcionista social, elas deixam de ser questões relevantes. O construcionismo social libera a pessoa para pensar em termos dos indivíduos em relação, em vez de uma dicotomia da relação x indivíduo. Situa também o conhecimento psicológico em um contexto sócio-histórico e trata dele como uma forma de atividade discursiva (in Gergen, Hofman & Anderson; 1996, p. 05).
Assim sendo, para não nos afastarmos de uma abordagem essencialmente clínica quando discutimos o diagnóstico, procuramos um referencial que nos oriente historicamente nesse tema. Poderíamos assim, talvez, iniciar uma discussão sobre a relação que nós terapeutas e nossos pacientes construímos com a classificação e a nomeação em saúde mental ao longo do tempo. Algumas perguntas importantes para este trabalho surgem a partir de uma abordagem histórica do diagnóstico psicopatológico. Como se ergue no meio da convivência humana uma prática de classificação em relação a características da mente? Desde quando se fala em diagnóstico psiquiátrico? E uma pergunta que se configura como uma das propostas de reflexão do presente trabalho: como o terapeuta, pautado em uma ótica construcionista, pode contribuir para que o diagnóstico, atualmente, seja um elemento que amplie a potência humana de existir, ao invés de limitar as possibilidades? A história do diagnóstico das chamadas doenças mentais nos leva aos tempos mais remotos. A própria história da Psiquiatria apresenta situações complexas por conta, muito provavelmente, da complicada relação entre seu campo de estudo e seu status de ciência. Além disso, segundo Bastos (2011), há uma inegável disputa dentro do campo psiquiátrico pelo poder da classificação do que seja normal ou patológico. Essa disputa pelo que o autor chama de poder simbólico da Psiquiatria acaba por se transformar na maior responsável pelas divisões oriundas de “interesses e conflitos sociais” (ibidem; p. 04). Tal comentário serve de amparo a uma das principais concepções desse trabalho acerca do diagnóstico, a de que ele deva ser voltado para e orientado pela Clínica, pela convivência com os pacientes, pela relação que estabelecemos com eles nos encontros terapêuticos. Obviamente, devem ser guardadas as diferenças essenciais que existem entre os diversos ramos da saúde mental. Entretanto, acreditamos que uma condução clínica deva privilegiar o contato com os pacientes. Por essa razão, quando construímos uma apresentação do diagnóstico psiquiátrico, é necessário dizer que o fazemos através de uma lente que esteja de acordo com a postura construcionista social. Com esse pensamento, trazemos um enfoque voltado para os aspectos históricos da relação entre os “profissionais de saúde” e os “pacientes”, lembrando que esses nomes são muito posteriores à prática de classificação das enfermidades mentais. Com base na literatura psiquiátrica, podemos observar que a preocupação diagnóstica não é uma prática dos dias de hoje, nem mesmo de nossa era. Segundo Wang, Louzã Neto e Elkis (in Louzã Neto & Elkis, 2007), em papiros egípcios de Kahun, existem registros - que seriam os primeiros - de patologias psiquiátricas com data de cerca de 2000 a. C. Esses autores ressaltam a concepção de Histeria (do grego hystero, matriz, útero) que trazia a ideia do útero como um ser que vivia dentro do corpo. Com essa concepção era desafiada a concepção mágico-religiosa que encarava as doenças como Loucuras naturais (ibidem). A ideia do reconhecimento, da interpretação e do tratamento das doenças mentais iniciada quase que com a própria história da humanidade é também ressaltada por Bastos (2011). Segundo esse autor, a Psiquiatria desponta também como a especialidade médica mais antiga. Em suas palavras:
É a mais antiga porque seus métodos diagnósticos (...) e terapêuticos (...) estão entre os mais remotos recursos da medicina tradicional - transe hipnótico, catarse, persuasão, sugestão, interpretação de fantasias e sonhos, utilização de drogas psicoativas e até mesmo intervenções neurocirúrgicas, como as trepanações cranianas - em todas as épocas e culturas, mesmo as mais rústicas ou “primitivas”. Por outro lado, em determinados aspectos ela apresenta características muito recentes porque a penas no início deste século [séc. 20][4] conseguiu separar-se verdadeiramente da neurologia e adquirir seus próprios conceitos e métodos (ibidem; p. 02).
A partir de uma preocupação histórica e, consequentemente cultural em relação ao diagnóstico, podemos perceber como era intensa a relação do homem com o que se considerava Loucura. Ainda nas palavras de Bastos:
Ao contrário do que pensam muitos desinformados, a Loucura era reconhecida e tratada desde a mais remota antiguidade. Médicos e sacerdotes chineses, indianos, egípcios, sumérios persas, gregos e romanos manipulavam psicofármacos e aplicavam técnicas psicoterápicas no tratamento dos vários distúrbios psíquicos há dezenas de séculos. A interpretação ritualizada dos sonhos, delírios, fantasias e alucinações, de acordo com a mitologia de cada cultura, proporcionava elementos terapêuticos de compreensão psicológica e reintegração social. (ibidem; p. 03).
Acreditamos que a importância histórica das concepções diagnósticas nos permita, entre outras coisas, ratificar a relevância do contexto cultural, como ressaltado nesse comentário, na construção do diagnóstico. Dizer que a interpretação de sinais feita de acordo com a mitologia de cada cultura proporcionava elementos de compreensão psicológica nos parece compatível com a ideia deste trabalho. Pensamos que a proposta construcionista de considerar o contexto conversacional em que surge e circula o diagnóstico, para que se possa utilizá-lo como elemento amplificador da existência humana, possa analogamente oferecer possibilidades clínicas importantes. O homem como ser complexo Observamos que o processo diagnóstico proposto pela psiquiatria atual se mostra na literatura como um conjunto de práticas bem definidas para efeito didático, como nos mostra Dalgalarrondo (2000). Ao mesmo tempo, como nos mostra Bastos (2011), as concepções diagnósticas e de tratamento de tempos mais remotos já apresentavam uma provável eficácia no tratamento; eficácia esta que estava ligada à consideração de um contexto cultural e uma “mitologia” de cada comunidade. Sendo assim, com o objetivo de uma reaproximação ao tema deste trabalho, apresentamos uma reflexão sobre a relevância de uma concepção de homem que considere a complexidade e a imprevisibilidade. Com a concepção do homem como um ser complexo, observamos em Jaspers a construção de uma proposta de estudo da psicopatologia. Ele considera e sublinha a multiplicidade humana. Em suas palavras:
Nos métodos de investigação do existir humano, não emerge qualquer imagem unitária do homem, e sim, muitas imagens, cada uma com força que lhe é peculiar, impositiva. (...) É erro proceder, quando se conhece o homem, como se todos os conhecimentos a seu respeito estivessem num só plano, como se tivéssemos ante nós o homem como objeto, que seria singular e cujo existir conheceríamos como um todo, em suas causas e efeitos (1911/2005; vol. II; p. 907).
A partir de tal pensamento, estaremos sempre a lidar com a multiplicidade humana. Acreditamos, a partir de uma ótica construcionista, que a linguagem possa ser o um dos elementos importantes para a compreensão das nossas formas de construir concepções sobre o homem e sobre o tratamento psicológico. Tal concepção nos parece importante, não como crítica da ciência, mas como ciência crítica, que considera as limitações. Parece-nos possível que as limitações, em determinadas dimensões e sob determinados pontos de vista, possam construir ampliações de sentido. No campo da psiquiatria atual, podemos observar que as reflexões e as interações com outras áreas do conhecimento estão cada vez mais intensas. A interação da psicopatologia com as ciências sociais vem tomando corpo nas últimas décadas. A partir de uma concepção múltipla do homem, como em Jaspers, e da busca da manutenção do status de ciência, que nos parece ser o movimento atual em toda a comunidade científica, podemos construir algumas aproximações que, talvez venham a reproduzir ampliações importantes. Bastos traz uma importante contribuição, neste sentido. Em suas palavras:
As contribuições das ciências sociais fizeram-nos ver sob o prisma do relativismo cultural todo o conhecimento humano e demonstraram a impossibilidade de conhecermos o homem isolado de seu meio social. (...) Como vemos, é difícil definir o homem normal (exceto no sentido puramente estatístico), ou seja, o ser humano completo e ideal. Somos obrigados a pensar no homem através de suas possibilidades, de suas metas individuais. Devemos, então, procurar as definições do que não é normal, no sentido daquilo que restringe as possibilidades humanas, que tolhe suas realizações potenciais em seu ambiente social, ou seja, do que não é humano no homem (2011; p. 18).
As palavras de Bastos revelam a importância que esse autor dá ao imaginário social e cultural como ambiente para a investigação clínica eficaz. Compatível com esta visão, a concepção do homem, tal como proposta por Jaspers pode ser uma concepção com se revela como uma visão aberta para a imprevisibilidade. Consideramos uma característica diferenciada em relação à clínica psiquiátrica nos moldes da primeira metade do século XX, a visão trazida por esses autores - lembrando que a referência de Jaspers aqui citada, data de 1911. Uma visão aberta ao que chamamos neste trabalho de mudanças paradigmáticas. Ainda que se ressalte a psiquiatria atual como inserida no discurso da busca pela verdade que a ciência apregoa, pode-se verificar, pelo menos nos autores que de algum modo foram influenciados por Jaspers, uma possibilidade de articulações discursivas, que considerem as variáveis cultura e história como variáveis que interfiram diretamente na avaliação, diagnóstico e tratamento psiquiátricos. O diagnóstico e a objetividade entre parêntesis Pensamos que a pergunta mais importante deste trabalho seja a seguinte: como acontece o encontro entre uma família ou paciente que tenha recebido um diagnóstico psiquiátrico e o terapeuta que trabalha com uma postura construcionista social? Nesta direção, a partir das questões abordadas quanto à dificuldade do diagnóstico, concepção de homem na psicopatologia e a linguagem como campo de construção dos significados, entende-se que algumas articulações com sentido prático sejam relevantes. Podemos observar que o diagnóstico psiquiátrico na atualidade está mais voltado para a descrição do quadro do que para a etiologia do transtorno. Observamos ainda a dimensão linguística das descrições, que se utilizará de elementos consensuais dentro da comunidade linguística onde operarem. Além disso, vemos que a atuação clínica orientada pela perspectiva construcionista social lida com o diagnóstico como um produto da linguagem, num acordo onde o nome dado a determinado modo de existir se torna funcional e por isso mesmo valorizado, para efeito de compreensão mútua. Segundo Grandesso (in Payá, 2011), o conhecimento de pessoas, assim como sua compreensão, quando feito a partir de uma postura construcionista social está diretamente vinculado a uma perspectiva social e histórica. Desse modo, qualquer pessoa será avaliada e compreendida como inserida em seus jogos de linguagem, em suas práticas discursivas (ibidem). Com efeito, podemos encontrar validações históricas para esta argumentação nos exemplos das práticas de “cura” e “tratamento mental” presentes em diversas culturas. Médicos ocidentais tratam de um jeito, médicos orientais tratam de outro (Bastos, 2011). Por essa linha de raciocínio, podemos inferir sobre as variações do tratamento dos problemas mentais de acordo com a cultura para índios, vikings, egípcios da antiguidade etc. Grandesso traz considerações sobremaneira contundentes para o que se entende por diagnóstico, à luz do Construcionismo Social:
Assim, de acordo com esse posicionamento, os diagnósticos nas suas distintas categorias são compreendidos como construções sociais de uma cultura profissional centrada no modelo médico. Anderson considera o diagnóstico como um acordo na linguagem, para dar sentido a algum comportamento ou evento, segundo uma determinada maneira de pensar (ibidem, p. 477).
Dessa forma, cabe a pergunta: que contribuições podemos oferecer a partir de uma concepção construcionista? Como o terapeuta pode ampliar possibilidades mediante sua maneira de lidar com o diagnóstico presente na família, quando observa o mundo através de uma lente construcionista? Pensando nas ampliações de foco que podemos obter com as lentes do Construcionismo, acreditamos que o caminho para uma compreensão do diagnóstico como construção social possa passar por uma revisão de nossos conceitos sobre a objetividade. Para tanto, podemos nos valer das ideias de Maturana (1998), sobre a questão do consenso e da objetividade. Esse autor propõe um novo olhar para a realidade e para a objetividade. Basicamente, trata a realidade como um acordo, um consenso para que haja algum entendimento que evitaria, no fim das contas, a rigidez de discussões intermináveis, já que não há como provar necessariamente que um ponto de vista ou outro está certo ou errado. Partindo do campo biológico para o psicológico, Maturana e seus colaboradores nos trazem a proposta de que a objetividade possa ser colocada entre parêntesis, para que se possa chegar a algum lugar. Dessa forma, seria possível estabelecermos acordos, a partir de uma linguagem comum, e esses acordos teriam uma funcionalidade cultural tão forte quanto uma realidade objetiva. Tal ideia está presente nas palavras que se seguem:
A única maneira de sair dessa armadilha é aceitar que, constitutivamente, como seres biológicos, não temos acesso a uma realidade objetiva independente e que a noção de objetividade como referência a uma realidade independente de nosso observar é uma imposição explicativa inadequada, já que o acordo em todos os casos repousa na aceitação de um critério comum de distinção. A concordância operacional, seja como acordo social ou como coordenação biológica, surge somente através da contínua geração do consenso que traz consigo a coexistência (Mendez, Coddou & Maturana R.; in Maturana, 1998. P. 153).
A armadilha de que falam os autores diz respeito à tentativa humana de estabelecer um padrão objetivo para a realidade, quando o padrão que parece ser mais adequado é um consenso perceptual. Para eles, o desacordo que surgir na busca de uma realidade objetiva “dura”, inflexível, será um desacordo intransponível, gerando até os rótulos e estigmas como errado, mau, louco etc. (ibidem). A saída proposta acima é a descrição de uma postura que coloca a objetividade entre parêntesis. A dificuldade a ser enfrentada não será por enrijecimento, mas por diferenças humanas compreensíveis, muitas vezes saudáveis. Colocar a objetividade entre parêntesis torna possível considerarmos as várias dimensões humanas quando nos propomos a conduzir um tratamento. Nas palavras dos autores acima citados:
Quando se coloca a objetividade entre parêntesis, o desacordo desaparece como tal, porque todas as partes se dão conta de que os diferentes pontos de vista são válidos, nos diferentes domínios porque são baseados em preceitos diferentes. Com a objetividade entre parêntesis, o ponto em questão já não é amis quem tem a razão e quem se equivoca, mas se queremos ou não coexistir, se queremos ou não as consequências de viver uma determinada realidade. Se queremos coexistir, devemos nos encontrar em um domínio comum onde compartilhamos os preceitos que o definem, e onde os pontos de vista em conflito não interfiram ou suas consequências se tornem irrelevantes (ibidem, p. 154).
Venho observando, na prática clínica, que a objetividade relativizada (ou entre parêntesis) promove movimentos mais amplos do que quando nos subordinamos à objetividade absoluta (sem parêntesis). Esta postura pode nos conduzir a uma mudança de posição e de função na relação com o paciente ou a família que atendemos. Nós terapeutas, de acordo com ideias já discutidas aqui, podemos sair do lugar de quem sabe o que é o melhor, de quem tem um conhecimento que vai solucionar o problema apresentado. Podemos nos tornar colaboradores na construção de um novo caminho de convivência. Esse posicionamento pode dar margens à ideia de que tudo deva ser relativizado e de nada sirva qualquer premissa. Não é essa a ideia que queremos compartilhar. Pensamos que a objetividade relativizada esteja de acordo com uma postura de responsabilidade sobre o que se observe, o que se sinta e o que se diga. Acreditamos que relativizar a objetividade possa nos conduzir a uma postura comprometida, responsável e, portanto, ética. Com a objetividade relativizada, podemos também observar o serviço que uma classificação nosológica pode prestar à saúde mental de um paciente ou de uma família. Podemos lidar de uma forma diferente com o diagnóstico, muitas vezes nos perguntando e perguntando à própria família como seria a vida se o diagnóstico tivesse uma dimensão tal que se tornasse possível melhorar a vida a partir dele, e não limitar as possibilidades por sua causa. Mais uma vez, segundo Maendez, Coddou e Maturana R.:
Em efeito, não dizemos que as avaliações como as de saúde doença ou patologia tenham lugar em um vazio operacional ou sejam simples fantasias. Pelo contrário, estamos dizendo que para um observador que coloca a objetividade entre parêntesis, tais avaliações constituem as situações em que o distinguido se estabelece e define o domínio de ações possíveis do observador diante do pedido de ajuda (ibidem; p. 157).
Acreditamos que exista uma construção de realidades na convivência clínica de que falaremos adiante, e que a objetividade seja um elemento de ajuda para a composição complexa que é o tratamento psicológico de uma pessoa e também a terapia familiar. A partir das concepções construcionistas, da importância de um referencial histórico para a classificação psicopatológica, da ideia de homem como ser complexo e da possibilidade de trabalharmos com a objetividade relativizada temos construída a argumentação teórica para a nossa reflexão sobre o que pode acontecer quando uma família chega ao consultório do terapeuta com um diagnóstico psiquiátrico. Pretendemos demonstrar, daqui pra frente, como essas concepções teóricas se encaixam na complexidade de um encontro clínico. Para tanto, trazemos alguns fragmentos de casos clínicos em que as questões acerca do diagnóstico tenham sido relevantes para o trabalho. Após a exposição dos fragmentos de cada caso, traremos uma breve discussão sobre as concepções teóricas do Construcionismo Social cuja importância pudemos identificar em cada um deles.
CASO CLÍNICO[5] A mulher que riu do diagnóstico Alzira[6] e sua mãe, Alba, foram encaminhadas para o setor de terapia familiar do IPUB por causa de problemas de relacionamento familiar e falta de adesão ao tratamento psiquiátrico por parte de Alzira. Esta havia passado pelo psiquiatra do hospital que lhe dera o diagnóstico de transtorno bipolar. Alzira estava com trinta anos, era casada, sem filhos e morava com o marido ao lado da casa da mãe. Alba era casada com o padrasto de Alzira, seu segundo marido. Os maridos não compareceram por impossibilidades físicas ou falta de tempo por causa do trabalho. Nesse atendimento, eu estava na equipe reflexiva e minha colega fazia o trabalho de terapeuta de campo. No primeiro atendimento, Alzira estava visivelmente agitada, apesar de cooperativa. Sua mãe aparentava tranquilidade, apesar de se queixar dos problemas que vinha enfrentando com a filha. As duas traziam várias perguntas sobre como deviam proceder, sobre o que poderiam ou não fazer. Esta foi a tônica de dois ou três encontros iniciais. Ao mesmo tempo, quando perguntávamos como elas estavam entre si e como andava o tratamento psiquiátrico de Alzira, ambas desconversavam e começavam a tentar falar sobre outros assuntos. As conversa giravam sempre em torno da dificuldade que os homens da casa impunham às duas com a falta de ajuda. Em determinado momento, a curiosidade da dupla terapêutica deixava mãe e filha desconcertadas, posto que acabávamos reparando e comentando que sempre perguntávamos sobre o que estava acontecendo entre elas que fizera jus a uma indicação para resolver problemas de relacionamento. Essa dinâmica se manteve por cerca de quatro atendimentos (dois meses, já que a proposta básica era de atendimentos quinzenais). Eu pensava que precisávamos mesmo dar tempo a elas para falar sobre algo que parecia tão aflitivo quanto uma internação psiquiátrica. Na conversa da dupla terapêutica, após os atendimentos, lembro-me de que sentíamos vontade de continuar conversando e conversando com as duas, dada a forma simpática delas se apresentarem. Numa conversa esclarecedora que tive com minha colega, após nossa supervisão, decidimos e ficamos tranquilos para conversar apenas, se isso fosse o necessário para que as duas chegassem a refletir e questionar as premissas que pareciam ter sobre o tratamento psiquiátrico. Apesar de pensarmos que seria necessário para as duas construir uma nova relação com o diagnóstico e com toda a rotina de um tratamento psiquiátrico, sabíamos que impor a elas a nossa concepção do que seria melhor para as duas fugiria completamente aos nossos objetivos. O pior que poderíamos fazer, no que se refere à postura construcionista seria impor a nossa visão do que estava acontecendo àquelas duas pessoas que pareciam estar desfrutando de um encontro diferente do que estavam acostumadas até então. Aos poucos, essa conversa diferente se dirigiu naturalmente para o assunto que parecia proibido. Houve encontros em que mãe e filha puderam manifestar a vergonha por estarem ali. Houve momentos em que a mãe conseguiu falar sobre as agruras de cuidar de uma filha “doente”. Aconteceu também de Alzira rejeitar o rótulo de doente e dizer para a mãe que esse era o maior problema entre as duas: sua mãe a tratava como doente. Nesse momento, tínhamos a oportunidade que queríamos para abordar o assunto que elas pareciam evitar a qualquer custo. Lembro-me de que foi essa uma das minhas perguntas no momento de reflexão. Falava com a minha colega que gostaria de saber se elas duas tinham a mesma sensação, ou pelo menos se fazia algum sentido para elas, a sensação que eu tinha de que o assunto transtorno bipolar, tratamento psiquiátrico e coisas do tipo eram evitados a todo custo por elas. Esse foi o momento em que as coisas efetivamente mudaram dentro do consultório. Aos poucos, Alzira conseguiu dizer que achava o diagnóstico de transtorno bipolar muito engraçado, pois não compreendia como um estado em que a pessoa se sentisse tão bem poderia ser tratado como doença. Ora, poderíamos ter encarado essa fala como uma das manifestações da imaturidade da paciente; imaturidade essa que seria compatível com sua falta de consciência de morbidade, muitas vezes presente em casos de episódio maníaco do transtorno bipolar. Tudo isso poderia estar certo? Sim, mas a nossa questão não era essa. O nosso interesse girava em torno do que faria sentido para as duas mulheres que ali estavam. Como poderíamos fazer para que o diagnóstico e o tratamento psiquiátrico deixassem de ser um monstro para as duas? A partir de então, a paciente começou a se engajar de forma diferente no tratamento. As conversas dentro do consultório com sua mãe passaram a ter a dupla terapêutica como coadjuvante. Fomos testemunhas de alguns arranjos práticos feitos pelas duas; arranjos que ainda pareciam precisar de nossa presença para acontecer de forma eficaz. À época do encerramento do trabalho, observamos que havia passado muito tempo sem que se cogitasse uma internação para Alzira. Construímos juntos a hipótese de que ela estava melhor porque estava tomando os medicamentos da maneira recomendada e estava fazendo isso com mais facilidade porque estava falando mais o que incomodava na relação com sua mãe. Ao final do processo, as duas começaram a observar que, para além das desavenças, eram duas grandes companheiras, pois enfrentavam problemas com os parceiros. Chegaram mesmo a dizer que os homens da casa “não perdiam por esperar” (sic).
Discussão O humor da paciente foi o caminho que ela mesma nos mostrou para que chegássemos a outras construções possíveis acerca da saúde relacional da família. A partir de uma reflexão sobre como era “engraçado” enxergarmos as coisas de maneira tão diferente, demos início à construção de algo que não poderia ter sido alcançado sem conversas constantes, sem quebra de protocolos, sem mudanças paradigmáticas. A falta de palavras sobre psiquiatria, sobre o incômodo que o diagnóstico provocava, às vezes maior na família do que no próprio paciente, parecia contribuir desde o início para a falta de engajamento de Alzira no tratamento psiquiátrico. A postura construcionista, neste caso, serviu para que uma pessoa que não aderia ao tratamento, passasse a colaborar com a equipe médica. No entanto, pensamos que mais do que isso tenha acontecido. A mãe, Alba, passou a falar sobre as coisas que gostaria de mudar em sua casa e não conseguira ainda, por causa do marido. Foi possível observar mudanças no modo como ela olhava para a filha, admitindo que, mesmo quando estava em crise, a filha era muito sua amiga e companheira. Para este caso clínico, muito nos serviram, num momento crucial, as palavras de Anderson e Goolishian, sobre as opiniões e verdades que nós terapeutas carregamos:
Nós, como terapeutas, estamos sempre tomando posições. Como terapeutas, nunca estamos vazios de valores e sempre funcionamos baseados em nossas visões. Esses preconceitos, no entanto, não são impostos aos clientes. Ao contrário, terapeuta e cliente, no diálogo um com o outro estão sempre agindo e refletindo suas ideologias, seus valores e seus pontos de vista. Estar no diálogo é tentar entender os outros e envolver-se na co-evolução do conhecimento e significados. Isto implica uma abertura do que é correto, do lógico e a validação de ideologias, valores e visões dos nossos clientes, e da disposição em negociar a validade das nossas próprias (Anderson & Goolishian; 1988, p. 28).
As premissas que nós, como dupla terapêutica, carregamos para o tratamento de Alzira e de sua mãe foram aos poucos reconhecidas. Foi trabalhoso para nós dois o processo de encontrar o que estávamos fazendo para contribuir com aquela rigidez. Reexaminamos nossas premissas e, aos poucos, pudemos manter algumas e, para aquele caso, deixar de lado outras. Por exemplo, com a dificuldade que as duas apresentavam em chegar no horário combinado, pensamos que faria sentido manter esse horário, posto que não houvesse uma proposta concreta de mudança por parte delas. Por outro lado, falar com Alba e Alzira apenas sobre o que seria tema da terapia mostrou-se uma prática ineficaz, que contribuía para afastar duas pessoas que, aos nossos olhos estavam pedindo por alguma aproximação diferente por parte dos profissionais. Conversar com as duas, sobre elas – e muitas vezes sobre nós – mostrou-se essencial para a manutenção do vínculo e de um ambiente possível para novas articulações e reflexões, além de parecer ter contribuído para um melhor engajamento da paciente no tratamento. Gostamos de pensar que o encontro entre a família com diagnóstico psiquiátrico e o terapeuta com uma postura construcionista, neste caso, serviu para que o diagnóstico pudesse fazer parte da vida da paciente e de sua família de outra forma. Não podemos saber se ainda hoje a família costuma fazer perguntas diferentes, geradoras de movimento. Podemos, no entanto, atestar que oi aberto para nós um espaço para introduzir aquelas perguntas que incomodavam, mas não deixavam de fazer sentido. Sabemos que utilizamos tal espaço incansavelmente, e sentíamos que estávamos numa direção diferente daquela que levava sempre ao mesmo lugar.
CONCLUSÃO
Com base nas premissas construcionistas, podemos construir um ambiente clínico que seja voltado para novas possibilidades. Talvez, uma forma de encarar o diagnóstico e o tratamento psiquiátricos que não considere esses dois elementos como bons ou ruins a priori possa trazer possibilidades de ampliação. Todo o conteúdo deste trabalho visa a propor que o diagnóstico não seja encarado como um fator desumanizador no tratamento, nem como uma entidade clínica inquestionável, mas antes, como um elemento que deve servir para ajudar o paciente a ampliar as suas possibilidades existenciais. Acreditamos que uma discussão interessante possa emergir do questionamento a respeito das posturas de profissionais e pacientes em relação ao diagnóstico. Se deixarmos de lado as perguntas sobre se ele é necessário ou não, talvez possamos caminhar em direção a perguntas mais úteis para os pacientes e mesmo para o nosso modo de trabalhar. Como cada profissional lida com o diagnóstico? Será que nós, terapeutas, podemos ajudar os pacientes a perceber as dimensões positivas pra saúde que o diagnóstico apresenta? Haverá algum sentido clínico em se adotar uma postura de engajamento contra ou a favor da classificação e da nomeação diagnóstica? São perguntas para as quais não temos respostas, mas achamos que o primeiro passo para concepções diferentes pode ser mesmo o ato de perguntar. Andersen, T. Processos Reflexivos. Rio de janeiro: NOOS; (1991). Anderson, H e Goolishian, H. Sistemas humanos como sistemas linguísticos: ideias preliminares e em evolução sobre as implicações para a teoria clínica; (1988). Basaglia, F. A Instituição Negada. Rio de Janeiro: GRAAL (2001). Bastos, C. L. Manual do Exame Psíquico: uma introdução prática à psicopatologia. Rio de Janeiro: REVINTER (2011). ___________ Cientistas e Feiticeiros: uma abordagem crítica da Psiquiatria atual. Rio de Janeiro: Revinter (2012). Dalgalarrondo, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Porto alegre: ARTMED (2000). Foucault, M. Doença Mental e Psicologia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro (2000). Gergen, K., Hofman, L. e Anderson, H. o diagnostico é um desastre?: um triálogo construcionista; rascunho do capítulo para Kaslow (org.) Diagnóstico Relacional, Wiley (1996). Gergen, K. e Warhuus, L. Terapia como construção social: características, reflexões e evoluções; in Gonçalves, M. e Gonçalves, O. (orgs.) Psicoterapia, Discurso e Narrativa: a construção conversacional da mudança. Coimbra: Quarteto (2001). Grandesso, M. A. Sobre e Reconstrução do Significado: uma análise epistemológica e hermenêutica da prática clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo (2011). ______________ Diagnóstico e Terapia Familiar: considerações a partir de uma epistemologia pós-moderna in Payá, R. (org.) Intercâmbio das Psicoterapias: como cada abordagem psicoterapêutica compreende os transtornos psiquiátricos. São Paulo: ROCA (2011). Guanaes, C. A Construção da Mudança em Terapia de Grupo: um enfoque construcionista social. São Paulo, VETOR. (2006). Jaspers, K. Psicopatologia Geral. (vols. 1 e 2) São Paulo: Atheneu (1911/2005). [Kaplan & Sadock] Sadock, B. J. e Sadock, V. A. Compêndio de Psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. Porto Alegre: ARTMED (2007). Louzâ Neto, M. R. e Elkis, H. (e cols.) Psiquiatria Básica. Porto Alegre, ARTMED (2007). Maturana Ramesín, H. Da Biologia à Psicologia. Porto Alegre, ARTMED; (1998). Maj, M. e Sartorius, N. Esquizofrenia. Porto Alegre: Artmed (2005). Mendez, C., Coddou, F. e Maturana Ramesín, H. A constituição do patológico: ensaio para ser lido em voz alta por duas pessoas, in Maturana Ramesín, H. Da Biologia à Psicologia. Porto Alegre, ARTMED (1998). Minkowski, E. La Esquizofrenia: psicpatología de los esquizóides y los esquizofrénicos. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica (1927/2000). Piccinini, W. A Guerra do Eletrochoque (ECT) in Psychiatry on line Brasil (2006). Referência de internet: http://www.polbr.med.br/ano06/wal0706.php.
[1] Ressalte-se aqui, que o trabalho pretende abordar casos em que o diagnóstico já esteja estabelecido pelo psiquiatra ou já tenha sido aventado por algum médico. A crítica feita aqui tem como objetivo fazer com que novas possibilidades de relação com o diagnóstico possam ser construídas. [2] Tratamento pela elevação da temperatura [3] Tratamento à base de convulsões induzidas pelo Cardiazol [4] Comentário nosso. [5]Os atendimentos em terapia familiar são conduzidos por uma dupla: um como terapeuta de campo e outro como equipe reflexiva. Os dois trabalhamos com as mesmas premissas teóricas. [6] Nomes e informações que possam identificar os pacientes são trocados, para preservar a identidade de todos.
| ||