

Volume 14 - 2009
Editores: Giovanni Torello e Walmor J. Piccinini
  Volume 14 - 2009 Editores: Giovanni Torello e Walmor J. Piccinini |





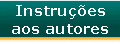


|
Agosto de 2009 - Vol.14 - Nº 8 Psicanálise em debate
DESCONSTRUINDO O CONCEITO DE RELIGIÃO (*) Sérgio
Telles * O livro “A Religião – O Seminário de Capri” traz os trabalhos apresentados num encontro organizado por Jacques Derrida e Gianni Vattimo - do qual participaram Mauricio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias e Vincenzo Vitiello - realizado em Capri, entre 28 de fevereiro e 1º. de março de 1994. Nesta resenha, vou-me ater à contribuição de Derrida. A escolha se deve à reconhecida importância que Derrida tem para o pensamento psicanalítico o que, mais uma vez, evidencia-se neste extenso texto, que ocupa quase metade do livro. A contribuição de Derrida está dividida em duas partes. A primeira, intitulada “Itálicos”, está grafada com esta característica fonte tipográfica e a segunda, “Post-Scriptum”, está grafada em tipos romanos. Com isto, Derrida expressa na composição formal do texto algo que nele vai explorar posteriormente, a diferença entre o italiano e o romano, este representando o aspecto político-institucional que remete às estruturas imperiais, tanto as do antigo Império Romano como as da Igreja Católica sediada em Roma, no Vaticano. As duas partes estão subdivididas em 52 itens numerados em seqüência. Na primeira, do 1 ao 26; na segunda, do 27 ao 52. Derrida apresenta a primeira parte como o registro de sua fala no encontro e a segunda como uma elaboração mais precisa daquela. Efetivamente, esta segunda parte, datada de 26 de abril de 1995, ou seja, um ano após o seminário, é mais didática e fácil de seguir, motivo pelo qual sugiro que por ela se inicie a leitura do artigo. Não é possível fazer um resumo de um texto tão multifacetado e rico como o de Derrida. Procurei sublinhar aquilo que dele me pareceu de maior interesse para nós, psicanalistas, deixando de lado a argumentação propriamente filosófica por ele desenvolvida numa interlocução com Kant (“A religião nos limites da simples razão”), Bergson (“As duas fontes da moral e da religião”) e Heidegger (“O Ser e o Tempo”). Não voltarei a esse aspecto do texto, mas, como informação, devo dizer que, ao que pude como leigo entender, achei interessante a discussão sobre a impregnação do cristianismo que Derrida julga ver nos textos por ele comentado e que se revela na opinião de Kant sobre a religião cristã como a única “religião moral” ou de Heidegger ao se dizer um “teólogo cristão”. Entretanto, ambas afirmações só podem ser entendidas dentro de um complexo contexto filosófico, no qual se destaca a oposição de Nietszche. Sobre Kant, pareceram-me muito fecundas suas considerações sobre as “religiões do mero culto”, que apenas procuram os favores de Deus, e as “religiões morais”, que visam a uma boa conduta na vida, regida por uma “fé que reflete” ou uma “fé dogmática”, retomadas por Derrida como elementos da questão entre fé e saber. O mote do encontro de Capri é aquilo que a mídia, com alguma leveza, chama de “retorno da religião”, associando-o geralmente a “fanatismos”, “fundamentalismos”, “integrismos”, “radicalismos”, tendo em mente – na maioria das vezes e sem dizê-lo – o Islã. Note-se que o encontro ocorreu em 1994, quando os simposiastas, todos eles europeus, talvez já sentissem as pressões geradas pela cultura islâmica trazida pelas levas de imigrantes. O assunto se agudizou e globalizou definitivamente depois do atentado ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Como era de se esperar, Derrida faz um extraordinário trabalho de desconstrução de todos os conceitos envolvidos nestas questões, permitindo-nos, com isso, uma nova visão dos mesmos.
O titulo do texto de Derrida é “Fé e Saber – As duas fontes da ‘religião’ nos limites da simples razão”. Nele defende a tese de que não há fundamento na crença, muito arraigada desde as Luzes, que diz serem incompatíveis a Razão e a Fé, Razão e Religião. Para tanto, vai examinar detidamente o que se entende por “religião”. A primeira coisa que Derrida faz é mostrar que não se pode falar de religião no singular, nem em abstrato. Há religiões, no plural. Em seguida, aponta para o fato de que todos os palestrantes são judeus ou cristãos europeus, estando ausentes representantes de muitas outras religiões e etnias, como, por exemplo, para citar apenas uma, a islâmica. Além do mais, são todos homens. As mulheres estão, mais uma vez, excluídas. Derrida adverte para que não se fale em nome destes ausentes. Passo seguinte, Derrida faz uma outra discriminação entre “religião” e o que se faz em seu nome, evocando as grandes guerras “religiosas” ocorridas ao longo da história, nas quais interesses os mais variados se abrigavam sob este rótulo. O comum das pessoas pensa que na religião se encontram os valores mais elevados do ser humano - a capacidade de amar e respeitar o outro, as bases do repúdio à violência e à agressividade, a preservação da paz na comunidade. Quando é esboçado algum pensamento crítico em relação à religião, logo se pensa que esses valores estão sendo atacados, que a critica poderia evocar a barbárie. Essa é uma confusão de fundamental importância, pois tais valores não são próprios da religião e devem ser atribuídos a outros campos. Diz Derrida: “Seria necessário estabelecer a dissociação entre as características essenciais do religioso como tal e as que servem de fundamento, por exemplo, aos conceitos de ética, do jurídico, do político ou do econômico” (p. 40). Para caracterizar melhor o que considera ser estritamente do âmbito do religioso, Derrida diz haver duas experiências fundamentais. São elas: a) a experiência da crença, da fé; b) a experiência do sagrado. Elas não se confundem. Pode-se ficar na presença do sagrado sem realizar um ato de crença ou fé, se considerarmos esta como o testemunho jurado do outro, assim como se pode ter uma experiência de crença ou fé sem estar na presença do sagrado ou do santificado. Mas Derrida mostra que a fé não deve ser confundida com o fato religioso, se este é entendida como algo do trato com o divino, pois a fé se faz imprescindível em qualquer comunicação humana. É preciso ter fé no outro, acreditar no que ele diz ser a verdade. Da mesma forma, o sagrado também não se circunscreve ao divino, pois o respeito à vida e ao outro, pode ter essa conotação. A vida é algo que deve permanecer indene, sã, a salvo, intocável, “sagrada”. Diz ele: “Eis algo que será necessário discernir: a fé nem sempre foi e nem sempre será identificável com a religião, tampouco com a teologia. Nem toda sacralidade e nem toda santidade são necessariamente religiosas, no sentido estrito do termo, se é que existe um” (p. 19). Por pensar que a fé não é um fenômeno exclusivo e restrito à relação do homem com o divino, e sim algo próprio das relações humanas, Derrida reflete que não há uma oposição ou incompatibilidade entre fé e razão, oposição afirmada com grande ênfase pelas Luzes e desde então defendida por seus herdeiros, a “filiação Voltaire-Feuerbach-Marx-Nietzsche-Freud-(e até mesmo) Heidegger” (p. 43). Diz ele: “(...) longe de se opor, o desenvolvimento imperturbável e interminável da razão crítica e tecnocientífica transporta, suporta e pressupõe a religião.(...) Religião e razão desenvolvem-se juntas, a partir desse recurso comum: a garantia testemunhal de todo performativo que compromete a responder tanto diante do outro, quanto a respeito da performatividade performante da tecnociência” (grifo do autor) (p. 43). É a partir da fé na palavra do outro que se baseia, em ultima instância, toda a possibilidade de conhecimento e de sua transmissão. Nas relações entre os homens, é fundamental a possibilidade da aliança com o outro, a promessa de ouvir dele a verdade e, em retribuição, para ele falar a verdade, de ter com o outro uma fé jurada. Esses atos engendram, quase que automaticamente, uma figura necessária, uma testemunha imprescindível que garanta as sempre frágeis e ameaçadas promessas e alianças entre os homens. Essa figura é Deus. Isso possibilita a criação da religião. Não há religião sem um sacramento, sem a promessa da verdade, sem uma aliança com Deus, que, por sua vez, garante – como testemunho - as alianças entre os homens. Vê-se que ficam na religião, como que simbolizados, idealizados e “purificados”, aspectos essenciais das relações entre os homens. Estabelecidas estas discriminações, Derrida retoma a questão do “retorno da religião”, mostrando que antes de tentar respondê-la é necessário fazer duas correções. Em primeiro lugar, não se pode falar propriamente em retorno porque sua globalização (Derrida usa o termo mundialização, corrente no francês) e as formas que assume dentro da economia, da política, da mídia e da ciência, não têm precedentes. Da mesma forma, não é um retorno do religioso, pois implica, na verdade, uma destruição radical do religioso, na medida em que estão em jogo tantos outros interesses – lembremos aqui a menção ao que se faz em nome da religião. Outra discriminação é feita por Derrida ao apontar que muitas vezes a discussão do “retorno do religioso” se mistura com projetos “pacifistas” e “ecumênicos”, que são propostos para resolver seus impasses. Tais projetos teriam uma função auto-destruidora da religião, na medida em que defendem valores diferentes dos da religião, colocam os direitos do homem e da vida humana antes de qualquer dever com o divino ou o absoluto. Além disso, neles muitas vezes está embutido o que há de pior dos resquícios do colonialismo europeu, cuja historia ainda está para ser escrita, nos lembra ele em outro escrito. Derrida insiste que fica caduca a oposição entre razão e religião na medida em que ambas pressupõem uma fiabilidade, uma fé irredutível no vinculo social, na valorização do testemunho, do gesto performativo da promessa, inerentes a todas as mensagens dirigidas ao outro. Diz ele: “Sem a experiência performativa desse ato de fé elementar, não haveria ‘vinculo social’, nem mensagem para o outro, nem qualquer performatividade em geral: nem convenção, nem instituição, nem Constituição, nem Estado soberano, nem lei, nem, sobretudo aqui, essa performatividade estrutural da performance produtiva, que, de saída, liga o saber da comunidade cientifica ao fazer, e a ciência à técnica. (...) Ora, por toda a parte em que se desenvolve essa crítica teletecnocientífica, ela coloca em ação e confirma o crédito fiduciário dessa fé elementar que é, pelo menos, de essência ou vocação religiosa (a condição elementar, o meio ambiente do religioso, para não dizer a própria religião). Dizemos fiduciário, falamos de crédito ou de fiabilidade para sublinhar que este ato de fé elementar suporta também a racionalidade essencialmente econômica e capitalística do teletecnocientífico” (p. 62). Assim como antes, mostrara que a fé não é própria da relação com o divino e sim uma condição imprescindível das relações entre os homens, Derrida agora afasta definitivamente a religião do trato do divino e da revelação, colocando-a como um lugar de encontro e comunhão de interesses entre homens, unidos pela fé comum na realização de projetos humanos, como a ciência e a economia. Mas, como veremos, o mesmo movimento que torna indissociáveis a religião e a razão tecnocientífica em seu aspecto mais critico (baseado no crer no outro, em seu testemunho), provoca movimentos auto-imunes, reações contra si mesmo que podem atingir um alto grau de violência, pois, ambas, ciência e religião, estão regidos por uma lógica “terrificante e fatal”, a “lógica da auto-imunidade do indene” (p. 61). A reação à teletecnociência expropriadora e deslocadora assume duas figuras. A primeira é a reação ao desgarramento por ela provocado, ocasionando um apego e sacralização das raízes, uma defesa apaixonada da identidade étnica, na qual são idealizadas a filiação, a família, a nação, o solo e o sangue, o nome, o idioma “puro”, cultura e memória “puras”, a religião. A outra reação toma a forma de uma curiosa fetichização da própria máquina, decorrente de seu uso cada vez mais generalizado sem que se tenha, mesmo por ser desnecessário, o efetivo conhecimento de como e porque ela funciona. Por exemplo, poucas pessoas poderiam explicar para seus filhos como funciona um aparelho de telefone, de televisão ou a internet. Ou seja, amplia-se o fosso entre o saber (sobre a máquina) e o saber-fazer (com a máquina). Num contra-fetichismo, este fosso termina por ser preenchido com elementos animistas, mágicos, místicos. A rejeição à máquina, assim como sua aparente apropriação, pode tomar a forma de uma religiosidade regressiva, estrutural e invasora. Essa reatividade contra a teletecnociência, uma aparente defesa do arcaico e primitivo se expressa tanto no dogmatismo obscurantista como numa vigilância hipercrítica. Mas – o que é uma peculiaridade dos novos tempos – a verdade é que mesmo os que reagem contra a teletecnociencia são forçados a recorrer a seus recursos para sobreviver. Isso fica muito evidente nas relações entre as religiões (especialmente as cristãs) e a televisão. A religião não pode sobreviver sem recorrer à televisão, ao mesmo tempo em que sabe ser ela sua grande inimiga, a negação de tudo que prega. Derrida mostra como nas nossas atuais “guerras de religião”, a violência apresenta duas faces. Uma se mostra contemporânea, totalmente harmonizada com a sofisticação da teletecnologia digital militar. A outra é uma “nova violência arcaica”. Opõe-se reativamente à primeira, retornando para o mais próximo possível do corpo puro e do ser vivo. Numa vingança contra a máquina, que expropria e descorporaliza, recorre-se ao embate corpo-a-corpo, à mão nua, aos abusos sexuais, ao uso de ferramentas mais simples e elementares, como as armas brancas. Essa “nova violência arcaica” se concretiza através de torturas, decapitações, mutilações de todas as espécies. A mídia se refere a esta face da violência “religiosa” como “matanças” e “atrocidades”, termos nunca usados quando dirigidos a episódios da guerra “limpa” possibilitada pela tecnologia, na qual o morticínio é muito maior, mas “menos violento”. Essa violência arcaica, do embate direto do corpo-a-corpo, seria a vingança do corpo puro contra a teletecnociência expropriadora e deslocadora, identificada com a hegemonia político-militar-capitalistica, a globalização do mercado e do modelo democrático europeu, secular e religioso. Essa “nova crueldade” representa uma selvageria reativa que tenta incriminar diretamente o corpo, especialmente no que diz respeito aos órgãos sexuais, que se pode estuprar, mutilar, ferir, ou ainda negar e ignorar, o que seria outra forma de violência. Assim, para Derrida, o que é chamado de “retorno do religioso”, é a exacerbação turbulenta do conflito entre a teletecnociência – com toda sua capacidade de desterrar, desidentificar, universalizar – e o movimento reativo contra esse desenraizamento das identidades culturais, apresentado como “religião”. Poder-se-ia dizer que, antes, a religião se propunha a nos salvar do grande mal (o pecado, o inferno). Atualmente o “grande mal” do qual a “religião” oferece a salvação pode ser entendido dentro da concepção freudiana da pulsão de morte ou como o perigo trazido pela teletecnociência e suas redes transnacionais e translinguísticas que rompem as referências identificatórias. Neste sentido, a religião seria o grande antídoto, aquilo que ancora o sujeito no corpo, no lugar, no sangue, na língua, no país. Apesar disso e ao mesmo tempo, a religião está muito atenta ao uso da teletecnologia e há, de fato, uma grande disputa pelo uso destas máquinas para divulgar sua mensagem. A religião odeia a teletecnologia e a vê como uma grande inimiga e, ao mesmo tempo não pode prescindir dela para manter suas estratégias. Vide os pastores eletrônicos a fazerem milagres a toda hora nas televisões do mundo ocidental, ou os grandes espetáculos midiáticos das viagens internacionais do papa. Mas ao falar da “nova crueldade”, Derrida faz uma longa digressão envolvendo a psicanálise, motivo pelo qual a cito na integra: “Será que, ‘ignorando’ a psicanálise, é possível falar, hoje, desse duplo estupro, falar disso de um modo que não seja demasiado idiota, inculto ou simplório? Ignorar a psicanálise pode ser feito de mil maneiras, algumas vezes por meio de um grande saber psicanalítico, mas em uma cultura dissociada. Ignora-se a psicanálise enquanto esta não for integrada aos mais poderosos discursos que, atualmente, são pronunciados não só sobre o direito, a moral, a política, mas também sobre a ciência, a filosofia, a teologia, etc. Existem mil maneiras de evitar essa integração conseqüente, inclusive no meio institucional da psicanálise. Ora, no Ocidente, a “psicanálise” (...) está em recessão; ela nunca transpôs, efetivamente, as fronteiras de uma parte da ‘velha Europa’. Este ‘fato’, faz parte, com plenos direitos, da configuração de fenômenos, sinais, sintomas que tem sido interrogados, aqui, por motivo da ‘religião’. Como pretender novas Luzes para dar conta desse ‘retorno do religioso’ sem colocar em ação, pelo menos, alguma lógica do inconsciente? Sem trabalhar este aspecto, pelo menos, e a questão do mal radical, da reação ao mal radical que se encontra no centro do pensamento freudiano? Tal questão já não pode manter-se separada de tantas outras: a compulsão à repetição, a ‘pulsão de morte’, a diferença entre ‘realidade material’ e ‘realidade histórica’, que, antes de tudo, impôs-se a Freud, precisamente, a respeito da ‘religião’, e se elaborou, em primeiro lugar, o mais perto possível de uma interminável questão judáica. É verdade que o saber psicanalítico pode também desenraizar e despertar a fé, abrindo-se para um novo espaço de testemunhalidade, para uma nova instância da atestação, para uma nova experiência do sintoma e da verdade. Esse novo espaço deveria ser também, embora não somente, jurídico e político. Teremos de voltar ao assunto” (p. 74). Tendo feito tantas discriminações sobre o que chamamos de “religião”, Derrida prossegue tentando chegar ao que lhe seria o mais especifico. É quando menciona a figura do “messias”. Mais uma vez, ele a despe de qualquer conotação mística ou transcendental, redimensionando-a em termos humanos: “O messiânico ou a messianicidade sem messianismo. Isto seria a abertura ao futuro ou à vinda do outro como advento da justiça, mas sem horizonte de expectativa nem prefiguração profética. (...) Essa dimensão messiânica não depende de um messianismo, não segue determinada revelação, não pertence, propriamente falando, a qualquer religião. (...) Um invencível desejo de justiça liga-se a essa expectativa. Por definição, esta não tem e não deve ter a garantia de nada, nem ser assegurada por qualquer saber, consciência, previsibilidade, programas como tais. Essa messianicidade abstrata pertence, para começar, à experiência da fé, do crer ou de um crédito irredutível ao saber e de uma fiabilidade que ‘fundamenta’ qualquer relação como o outro no testemunho. (...) Ela inscreve-se, de antemão, na promessa, no ato de fé ou no apelo à fé que habita qualquer ato de linguagem e qualquer mensagem dirigida ao outro” (grifos do autor da resenha)(p. 29-30). Toda fé implica quase automaticamente na esperança de algo por vir, algo que mostra uma iterabilidade (a capacidade de produzir repetições automáticas que instaura uma diferença; uma repetição que leva do mesmo à alteridade, à mudança, ao outro) que a aproxima do maquínico, do maquinal, do técnico: “Fé e ciência (o maquinal) não devem ser pensados separadamente e sim ao mesmo tempo, o maquinal e todos os valores investidos de sacrossantidade, mais precisamente na sacrossantidade do efeito fálico”. Considera Derrida que esses mecanismos automáticos iterativos característicos da fé têm uma ilustração especialmente relevante na “automaticidade colossal da ereção” (grifos do autor) (p. 66). A ereção como representação simbólica privilegiada da vida enquanto algo sagrado, a ser conservado indene e imune, e que, ao mesmo tempo, por sua espontaneidade e relativa autonomia frente à deliberação consciente, evoca o maquínico, o maquinal, o “técnico”. Diz ele: “Diferentemente do pênis, não será também o fálico o fantoche que, uma vez desligado do corpo puro, é erguido, exibido, fetichizado e levado em procissão?” (p. 66). O falo é um avatar da potência criadora, a matriz de todos os cultos, de todos os fetiches, possibilitando uma generalização ilimitada de “uma adoração fetichizante da própria Coisa” (p. 66). Por esta via, Derrida faz uma esclarecedora incursão interpretando a importância dos cultos fálicos presentes em tantas religiões. Mostra ele como a falicidade – a possibilidade de ereção do pênis – tem um efeito de sacralidade e como isso se evidencia na escolha da circuncisão do pênis como a inscrição no corpo da aliança de Deus com os homens, ritual compartilhado pelas três grandes religiões abraâmicas. Essa valorização fálica do homem talvez explique, segundo Derrida, porque os momentos mais terríveis, violentos e destrutivos da religião tenham as mulheres como suas vitimas preferenciais. O falo – enquanto força, força de vida, fertilidade, crescimento, aumento, expansão, inflação – é uma representação do poder divino criador, coisa que, com menor expressão, também acontece com a imagem da gestação, como mostram as pesquisas lingüísticas feitas por Benveniste, amplamente citadas por Derrida no correr de todo este texto. Há uma aparente contradição na forma como a religião trata a valorização da vida. Por um lado, um respeito absoluto por ela, evidente no “não matarás”, na proibição das manipulações possibilitadas pela tecnociência, como o aborto, a inseminação artificial, as intervenções genéticas, etc. Mas, por outro, a religião exibe uma plena vocação sacrificial, que não deve ser confundida com as guerras religiosas e demais as morticínios equivalentes. A aparente contradição entre o respeito pela vida e a exigência do sacrifício da própria vida se deve à postulação de que a vida não vale absolutamente nada, a não ser valendo mais do que ela mesma, pois ela se dá entre determinados valores simbólicos a serem preservados, algo pelo qual se vive e pelo que se pode sacrificar a própria vida, tendo em vista uma sobre-vida invisível e espectral. Poderiam esses valores ser o próprio dogma religioso ou as conseqüências das alianças humanas. A violência do sacrifício é exercida em nome de uma não-violência. O sacrifício implica sempre o sacrifício de si, representa o preço a pagar para não ferir, lesar ou danificar o outro. Em sua desconstrução do conceito de religião, Derrida quer pensar junto saber e fé, tecnociência e crença religiosa, o cálculo e o sacrossanto, “cruzar o calculável com o incalculável, o inumerável com o número”. Sob este enfoque, surge a importância da demografia na “questão religiosa”. Um bom exemplo é a “questão judaica” – um “povo” diminuto em termos demográficos, com uma religião de imenso peso histórico e cultural. A invasão da teletecnologia ameaça as identidades de muitos “povos”. Por isso, é necessário inventar novas maneiras de contar, contar com a religião e contar a religião, os fiéis de cada religião. Isto se torna mais premente quando pensamos nos possíveis efeitos da globalização. Induzirá ela um extermínio dos microclimas culturais, históricos e políticos? Sob este aspecto, não seria ela tão perigosa quanto a solução final? Isso é especialmente urgente para o estado e as nações de Israel, embora também diga respeito aos cristãos. E, ao contrário, em nada ameaça os muçulmanos, no momento menos expostos a esses perigos. Derrida diz que a experiência do testemunho se situa na confluência das duas fontes da religião, a fé e o sagrado: “No testemunho, a verdade é prometida para além de qualquer prova, de qualquer percepção, de qualquer demonstração intuitiva. Mesmo se eu minto ou faço um juramento falso (e sempre e sobretudo quando tomo essa atitude), prometo a verdade e peço ao outro que acredite no outro que eu sou, exatamente onde sou o único a poder dar testemunho e onde a ordem da prova ou da intuição nunca será redutivel ou homogênea a essa fiducialidade elementar, essa boa-fé prometida ou exigida” (p. 86). Como já vimos, a boa fé está implícita em toda mensagem dirigida ao outro. Ela condiciona todos os aspectos do vínculo social, todo questionamento, todo o saber, toda performatividade e toda performance teletecnocientífica. Derrida mostra como o ato de fé exigido na atestação por estrutura, vai mais além de qualquer intuição e de qualquer prova, de qualquer saber. Na atestação do testemunho se deve acreditar como que num milagre. Ela se propõe como o próprio milagre: “A experiência de desencantamento, por mais indubitável que seja, não passa de uma modalidade dessa experiência ‘miraculada’, o efeito reativo e passageiro, em cada uma de suas determinações históricas, do maravilhoso testemunhal. Que se seja chamado a acreditar em qualquer testemunho como em um milagre ou em uma ‘historia extraordinária’, eis o que se inscreve inesperadamente no próprio conceito de testemunho. (...) A atestação pura, se houver alguma, faz parte da experiência da fé e do milagre. Implicada em todo vínculo social, por mais banal que seja, torna-se tão indispensável à Ciência, quanto à Filosofia e à Religião” (p. 87). Como as duas fontes da religião, fé e sacralidade, podem-se reunir e dissociar de várias maneiras, Derrida propõe que Heidegger fala de uma sacralidade sem crença (fé), enquanto Levinas propugna por uma fé em uma santidade sem sacralidade. Na própria experiência da não-relação ou da interrupção absoluta, pensadas por Blanchot e Levinas, a sacralização estaria em jogo, na medida em que a hipersantificação da não-relação seria dessacralizada, designando o “desencantamento como o próprio recurso do religioso” (p. 88). Vimos como Derrida desconstrói o termo religião, discriminando várias camadas superpostas de significados, desvinculando-os de uma ligação exclusiva ao trato do divino. Mostra como não se confunde a religião com sua instituição e com tudo aquilo que é feito em seu nome; como muitas atribuições tidas como exclusivas da religião podem estar ligadas à ética, ao jurídico, ao político; como a fé e o sagrado não são exclusividades da relação com o divino, são atributos centrais das relações humanas; como o próprio messias é uma imagem da esperança da chegada do outro. Longe de dogmatismos, Derrida nos lembra das pluralidades das religiões, suas histórias, as histórias de suas histórias, suas genealogias que se embaralham, as línguas nas quais existem. Poder-se-ia, então, perguntar – mas teria Derrida evitado abordar o transcendente, o divino, aspectos incontornáveis no assunto por ele escolhido? Derrida o aborda, sim, embora o faça dentro de uma estratégia que o desloca da posição central que convencionalmente ocuparia num texto sobre religião, dando-lhe um lugar marginal, atingido indireta e obliquamente. Ele o faz por dois caminhos, ao abordar o que seriam as duas “origens” ou “fontes” da religião. A primeira diz respeito ao “messiânico”, que, como já mencionei acima, Derrida afasta de qualquer conotação “profética”, decorrente de “revelação”. Como se sabe, a revelação é por muitos considerada a essência do sagrado, elevada à condição de dogma, pois diz respeito aos momentos nos quais a divindade se manifesta diretamente ou através de profetas. Derrida aborda ainda a revelação a partir da questão da Terra Prometida, fundamental no judaísmo. Frente a este tema, cuja imensidão abissal o faz “temer e tremer”, nele julga ver o vínculo essencial entre a promessa de lugar e a historicidade. A historicidade provoca “uma especificidade aguda no conceito de religião”. Mais ainda, as revelações devem ser vistas dentro desta historicidade. Diz ele: “Tais acontecimentos (as revelações) só chegam a ter sentido pelo fato de comprometer a historicidade da história – e a factualidade do acontecimento como tal. Diferentemente de outras experiências da “fé”, do “santo”, do “indene” e do “salvo”, do “sagrado”, do “divino”, diferentemente de outras estruturas às quais, por analogia duvidosa, seriamos tentados a dar o nome de “religiões”, as revelações testamentárias e alcorânicas são inseparáveis de uma historicidade da própria revelação” (grifo do autor)(p. 19). Ao enfatizar a historicidade da revelação, ao dar-lhe um tempo e um lugar específicos, Derrida abre espaço para que elas sejam entendidas como fenômenos humanos, condicionados pela história e geografia. Quanto a “Deus”, Derrida não o menciona diretamente, mas evoca algo muitas vezes por ele abordado em outros textos, a chôra, figura criada por Platão em “Timeu”: “o nome de um lugar, um nome de lugar, e muito singular, para esse espaçamento que, não se deixando dominar por uma instância teológica, ontológica ou ainda antropológica, sem idade nem história, e mais “antigo” do que todas as oposições (por exemplo, sensível/inteligível), nem chega a se anunciar como para além do ser (...) ela não é o Ser, nem o Bem, nem o Homem, nem a História... terá sido sempre o próprio lugar de uma resistência infinita, de um resto infinitamente impassível: um outro completamente diferente sem rosto” (p. 33)[*]. Seria a forma pela qual Derrida evoca o incognoscível das origens, um espaço para pensarmos o que muitos chamam de “Deus”? Afinal, o único que podemos fazer é reconhecer o mistério, evitar negar a angústia que ele em nós desencadeia e denunciar aqueles que dele fazem comércio, usufruindo de um extraordinário poder ao se arrogarem a posição de seus interpretes e guardiões privilegiados. Derrida aponta para uma religião não “religiosa” no sentido comum, “ateologizada” (p. 31), fruto de necessidades humanas. Por vias diferentes, muito se aproxima da forma como Freud entendia este importante fenômeno.
(*) Publicado na revista “Percurso”, no. 42, junho 2009
| ||