

Volume 14 - 2009
Editores: Giovanni Torello e Walmor J. Piccinini
  Volume 14 - 2009 Editores: Giovanni Torello e Walmor J. Piccinini |





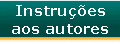


|
Abril de 2009 - Vol.14 - Nº 4 Psicanálise em debate Estar ou não afim - algumas idéias sobre o sexo nas cidades (*) Sérgio
Telles *
“Sex and the city”, de Candace Bushnell e “Bridget Jones”, de Helen Fielding, são expoentes do “chick lit” (algo como “literatura das garotas”), gênero literário criado pelo mercado editorial dos Estados Unidos. Supostamente tal gênero aborda a problemática da mulher pós-feminista, não mais lutando por sua liberdade sexual ou pela igualdade de direitos frente aos homens, mas usufruindo dos ganhos da conquista e pagando seus ônus. O problema é que a “chick lit” banaliza e diminui as vitórias do feminismo, reduzindo-as a uma troca inconseqüente de parceiros amorosos e a um frenesi pelo consumo de alto luxo. Afinal, no universo ali descrito, todo mundo é chique, civilizado e mora em lugares de muito bom gosto. Paradoxalmente, ao mostrar as mulheres como românticas cujo único objetivo na vida é encontrar um bom partido, a “chick lit” termina por reforçar estereótipos contra os quais o próprio feminismo tanto lutou. Não é difícil ver, debaixo das sandálias Manolo Blahnick e das bolsas Louis Vuitton, as mesmas jovens sonhadoras que povoavam os livros de M.Delly. É esse cenário que vamos encontrar no filme “Ele não está tão afim de você” (“He´s just not that into you”, 2009), dirigido Ken Kwapis e com um estrelado elenco (Ben Afleck, Jennifer Aniston, Drew Barrimore, Jennifer Connely e Scarlett Johansen). O filme se baseia num livro que vendeu dois milhões de exemplares nos Estados Unidos, escrito Greg Behrendt e Liz Tuccillo, roteiristas do “Sex and the city”, o seriado de televisão gerado pelo “best-seller” de Candace Bushnell. Tendo como eixo central as desventuras de Gigi, uma empedernida ingênua às voltas com o enganoso mundo dos homens, perpassam no enredo alguns casais com diversos problemas amorosos. Preocupadas em atrelar sua sexualidade ao casamento, as mulheres são doces, amoráveis e vítimas dos homens, quase todos empenhados em seduzir e abandonar - com as exceções que confirmam a regra. Vê-se que atrás da aparência moderninha que procura ostentar ao tratar da condição da mulher e dos relacionamentos amorosos nos dias de hoje, o filme se revela convencional e conservador. A própria heroína, a inacreditável Gigi, parece ter saído direto de algum volume da antiga Biblioteca das Moças. As decorrências da liberdade sexual e da liberação da mulher observadas nas grandes metrópoles ocidentais parecem muito mais bem retratadas no excelente “Closer” (2004), dirigido por Mike Nichols, baseado na peça premiada de Patrick Marber, com Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law e Clive Owen. O que “Closer” – cujos personagens não poderiam ser mais “cool” - mostra é que a liberdade sexual, a ausência de entraves religiosos e preconceitos sociais não eliminam os “antigos” conceitos de traição ou desilusão amorosa. Na verdade, poderíamos acrescentar, eles estarão sempre presentes, pois na medida em que se ama, é impossível não correr os riscos da perda e seus desdobramentos em termos de sofrimentos. Assim, “Closer” parece dizer que a pós-modernidade não nos isenta das dores do amor. O que ela faz é facilitar as defesas contra estas dores, possibilitando, em função da liberdade sexual e do “ethos” narcisista que impregna atualmente a cultura, a prática do sexo casual. Ao ver “Closer”, entendemos que sexo casual ou o “estar afim” são práticas que satisfazem basicamente ao narcisismo de cada um dos envolvidos. É como uma masturbação a dois. Não tem nada a ver com um relacionamento amoroso, pois este implica uma superação do narcisismo, o estabelecimento de uma relação objetal, a construção de um vinculo afetivo, a temeridade de lançar-se no vôo cego de uma entrega confiante no outro, sem nada a garantir o sucesso da empreitada. “Ele não está tão afim de você” e “Closer” se inscrevem em diferentes registros. O primeiro é mero entretenimento, o segundo é uma obra de arte. O entretenimento pretende primordialmente divertir e, para tanto, evita abordar a dimensão trágica da vida. Uma posição radicalmente diferente da arte, que não se recusa a integrar em seu interior todas as contingências da existência humana, inclusive seu inevitável caminhar para a morte, ao mesmo tempo em que oferece o prazer estético, que ameniza e torna mais palatável seus fortes conteúdos. Uma outra característica do entretenimento é o uso abundante de clichês e estereótipos, que proporcionam ao grande público um tranqüilizador sentimento de reconhecimento e familiaridade com o que lhe é apresentado. Mais uma vez, situação bem diferente daquela proposta pela criação artística, com sua preferência pelo inusitado, pelo inédito, pelo desafio do novo. É verdade que mesmo bons artistas, como Woody Allen, vez por outra apelam ao chavão para garantir uma boa bilheteria. É o que acontece em “Vicky, Cristine, Barcelona” (2008). Num ininterrupto desfile de lugares-comuns, duas jovens norte-americanas vão passar uma temporada de férias em Barcelona, na casa de um rico compatriota. Envolvem-se numa série de imbroglios amorosos e tudo se acaba com o verão, quando as duas voltam para seu país, “enriquecidas” com suas novas experiências. Há os “artistas” e os “burgueses”. Há os “espanhóis”, com seu sangue latino caliente, e há os “americanos” e “ingleses”, comedidos, sofisticados e irônicos. Os “artistas” têm um temperamento excessivamente “artístico”, criando “obras de arte” a todo instante. Penélope Cruz, num papel que lhe deu o Oscar (!), como a pintora genial e geniosa, explosiva e imprevisível, é a própria encarnação da artista “espanhola”. Os ricos “burgueses”, como era de se esperar, nada mais fazem que langorosamente lutar contra o tédio, em meio a festas, iates e pequenas traições. Abordada de forma leve e estereotipada ou com a complexidade que ela exige, o fato é que a eterna luta entre os sexos é um tema da maior importância, abordado anteriormente por inúmeros cineastas. Para citar alguns, lembramos Bergman, especialmente em “Cenas de um casamento” (1974) e seu dilacerante epílogo, “Sarabanda” (2003); Ridley Scott em “Thelma e Louise” (1991), um dos mais pungentes filmes sobre os impasses da condição feminina em nossos tempos; e Almodóvar em “Volver” (2006), onde disfarçado no tom de comédia, transparece a visão trágica de dois mundos fechados – o masculino e o feminino – que ao se aproximarem, não produzem o amor e a criação, e sim o incesto, a violência, o assassinato. “Anatomia é o destino”, disse Freud. Com isso apontava para o fato de ser a diferença anatômica entre os sexos um referencial incontornável na realidade humana, estabelecendo lugares e papéis específicos culturalmente determinados. O embate entre homens e mulheres, no qual cada sexo usa de suas armas e estratagemas, toma feições diversas em função do tempo e do lugar na história. É inegável que, durante séculos e na maioria das culturas, o falicismo prevaleceu, fazendo com que as mulheres fossem submetidas ao poder dos homens. E assim ainda ocorre com vastas parcelas da população mundial. Somente com Freud foi possível obter uma compreensão acurada dos aspectos mais profundos e inconscientes do falo e da castração, e de seus efeitos na organização dos grupos humanos. É irônico que o feminismo, que tanto deve a Freud, tenha-se voltado, num determinado momento, contra a psicanálise, ignorando ter sido ela o que tornou possível entender o caráter fantasmático que sustentava (e ainda sustenta) a pretendida superioridade masculina sobre as mulheres. (*) Artigo publicado no suplemento “Cultura” do jornal “O Estado de São Paulo” em 12/04/09
| ||