

Abril de 2013 - Vol.18 - Nº 4
Editor: Walmor J. Piccinini - Fundador: Giovanni Torello

 Abril de 2013 - Vol.18 - Nº 4 Editor: Walmor J. Piccinini - Fundador: Giovanni Torello |





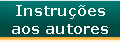


|
Abril de 2013 - Vol.18 - Nº 4 Psicologia Clínica RESTRUTURAÇÃO COGNITIVA NA TERAPIA COGNITIVA FENOMENOLÓGICA: UM CASO DE FOBIA ESPECÍFICA Braz Werneck Filho Resumo O objetivo deste trabalho é demonstrar, a partir de um exemplo clínico, como a reestruturação cognitiva pode ser atingida a partir de uma estratégia alternativa ao questionamento socrático. Propomos aqui, a vinculação entre terapeuta e paciente como uma ferramenta de construção de autoconfiança e consequente reestruturação de pensamentos de menos valia em relação a si mesmo. O caso clínico aqui apresentado mostra como o relacionamento entre paciente e terapeuta foi o principal elemento motivador para uma mudança de pensamento em relação a vários assuntos do cotidiano. Tal mudança de pensamento refletiu, por fim, na queixa principal do paciente, mas não pela via direta, à qual o paciente resistira durante muito tempo. Propomos aqui que, muitas vezes, o processo de reestruturação cognitiva vá além dos processos de aprendizagem, posto que o indivíduo possa aprender e assimilar as informações que lhe são passadas, mas ainda assim, não conseguir colocar em prática essa nova forma de pensar. Pensamos que um vínculo afetivo sólido e autêntico faça o papel de catalisador para essas situações onde um dos objetivos terapêuticos passa a ser a reestruturação cognitiva. Descritores:
Reestruturação Cognitiva, Vinculação Afetiva, Terapia Cognitiva Fenomenológica Introdução Ao longo dos últimos cinco anos, venho me debruçando sobre a possibilidade de unir o Método Fenomenológico à Terapia Cognitiva. O trabalho é mais complexo do que se pode imaginar à primeira vista, posto que a Fenomenologia, para a maioria das pessoas, até mesmo profissionais da área aparece apenas como uma inspiração filosófica compatível com a Terapia Fenomenológico-Existencial. No entanto, o que desponta como possibilidade para essa relação de complementaridade, como visto em estudos anteriores, é justamente a observação clínica, contra a qual é igualmente difícil encontrar argumentos. E é a partir da observação do andamento de um caso clínico por mim conduzido que se estabelece este trabalho, na direção de uma proposta de um olhar diferente para a reestruturação cognitiva. Alguns aspectos clínicos vêm se mostrando presentes constantemente no que se refere a esse assunto, e tentarei explanar sobre eles aqui. Inicialmente, vale lembrar que a Terapia Cognitiva Fenomenológica (TCF) é uma terapia cognitiva e como tal, mantém alguns dos pressupostos teóricos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Um dos mais importantes é justamente a validade da reestruturação cognitiva. Todavia, venho observando que a reestruturação cognitiva parece percorrer caminhos mais misteriosos do que se poderia pensar num primeiro momento. Os aspectos clínicos importantes para este trabalho são os seguintes: 1. A reestruturação cognitiva é um processo que leva a mudanças de comportamento importantes para a saúde mental dos pacientes; 2. Alguns pacientes apresentam vários tipos de resistência a mudanças em sua forma de pensar e de processar as informações; 3. A vinculação afetiva proposta pela TCF se mostra um instrumento muitas vezes eficaz para a reestruturação cognitiva ou mesmo um catalisador para esta, quando não funciona o questionamento socrático puro e simples. Reestruturação
Cognitiva: além de um processo de aprendizagem Uma das principais dificuldades no campo das terapias cognitivas reside no fato de que muitas informações não são absolutamente novidade para o paciente. Em alguns casos, isso é fator para surgimento e aumento da resistência contra a terapia. A despeito do nível educacional e cultural do paciente, ainda lidamos com a ideia maniqueísta de que o terapeuta será o responsável pelas mudanças. Ou seja, o paciente vai para o consultório do psicólogo como se fosse parra um consultório médico, esperando chegar lá, adquirir uma receita para um “remédio”, tomar o tal corretamente e depois de um tempo, estar livre dos problemas. Não é preciso muita prática para que percebamos que esse esquema não funciona. No máximo deixa o paciente dependente do hábito de fazer terapia, quando nosso objetivo é (ou deveria ser) trabalhar para que ele não precise mais de terapia. O trabalho com reestruturação cognitiva da TCC utiliza principalmente o chamado Método Socrático (Rangé, 1998), em que perguntas são feitas ao paciente buscando as falhas lógicas em sua forma de pensar. Estas falhas, acredita-se, estarão diretamente ligadas ao sofrimento do paciente. Quando o paciente se dá conta da forma disfuncional como vem encarando alguns acontecimentos, percebe que seu pensamento está muitas vezes distorcido, por vários motivos, e assim, pode passar a valorizar outras formas de pensar que seriam mais saudáveis. De fato, muitos dos problemas alvo das técnicas para a reestruturação cognitiva são modificados tão logo o paciente se dê conta de seu modo de ver as coisas, identificando padrões de pensamento, esquemas de funcionamento etc. Só que, em alguns outros casos, ainda que a reestruturação cognitiva nos pareça um caminho saudável para mudança do quadro clínico, o nível cognitivo do paciente esteja preservado, principalmente em relação à inteligência, alguma coisa acontece que impede o paciente de usufruir o bem que uma reestruturação cognitiva posa lhe fazer. Em outras palavras, perguntamos aqui o que pode ser feito quando o Método Socrático, depois de tentativas adequadas e bem conduzidas pelo terapeuta, não surte o efeito desejado? Para uma investigação tão válida quanto possível, pode-se procurar a resposta pelo caminho inverso. Quando observamos que houve uma mudança na forma de pensar de um determinado paciente, nos perguntamos que fatores contribuíram para aquela nova construção. Em alguns exemplos clínicos, pude observar que teria todos os argumentos para defender que uma reestruturação cognitiva havia ocorrido com o paciente, mesmo sem que eu tivesse trabalhado especificamente esta técnica. O mesmo poderia ser observado em relação a outros casos que atendia. A pergunta só apareceu quando eu comecei a comparar os casos clínicos especificamente em relação à reestruturação cognitiva. O que teria acontecido nos processos terapêuticos daqueles pacientes para quem a reestruturação cognitiva não parecia ter sido um problema? Como eu não havia trabalhado especificamente a reestruturação com cada um deles, comecei a pensar que algo na relação terapêutica poderia ser o fator reestruturador. Ao longo do tempo, vem sendo possível observar que a característica informacional do processo de reestruturação cognitiva muitas vezes não é suficiente para que a mudança de pensamento ocorra. Vale ressaltar que a mudança, quando ocorre, provoca, sim, modificações nos afetos e na forma que o paciente tem de lidar com o mundo ao seu redor. Acontece que a reestruturação cognitiva passa a figurar como processo em que o aprendizado e aquisição de novas informações não possuem o poder de transmissão que se pensa. É comum que o paciente esteja plenamente consciente de que os seus pensamentos catastróficos têm uma mínima chance de se realizar e ainda assim, quando em momentos de decisão, ele se comporte como se fosse acontecer o que ele mais teme, como no fragmento de caso clínico a seguir: R., paciente do sexo masculino, 19 anos, solteiro e auxiliar
de escritório, faz tratamento há mais de três anos para vencer o medo que tem
de elevadores. Não relata medo significativo ou patológico de qualquer outra
coisa. Em elevadores, porém, não consegue entrar, desde que soube que sua
namorada ficara presa e passara mal dentro de um deles. Depois de diversas
experimentações de dessensibilização, sempre
acompanhadas pelo questionamento socrático, tanto no consultório, quanto no
próprio local, R. começou a demonstrar desinteresse pela terapia, pois não
estava conseguindo melhorar e ainda perdia oportunidades de emprego por causa
da fobia de elevadores. Começou a apresentar sintomatologia depressiva
resistente à medicação que o psiquiatra prescrevera. Suas relações começaram a
se deteriorar, tanto em casa quanto no trabalho pouco satisfatório que ainda
conseguia manter. Durante três meses,
numa sessão de avaliação da terapia, propus a R. que deixássemos de tentar
enfrentar os elevadores e passássemos a direcionar o foco da terapia para
outros problemas que pareciam incomodar tanto quanto. Após a surpresa, R.
concordou e disse que se não desse algum resultado encerraria a terapia. Após
esse contrato, por minhas suspeitas de que ele estabelecia relações de maneira
complicada com as pessoas, principalmente na família, iniciamos uma
investigação de cada uma de suas relações, sempre tentando compreender porque
R. estava tão apegado àquele medo que, normalmente não dura muito. A partir da
construção de seu Genograma, que se mostrou uma atividade bastante interessante
para ele, outros assuntos muito importantes vieram à tona na terapia, como a
sua dificuldade de dizer “não” e de enfrentar sua mãe, que decidia tudo por
ele. Em determinado momento, R. associou o seu medo de elevador aos vários medos que a mãe possuía: insetos, tempestades,
altura, avião, etc. Ao cabo de oito meses de terapia dentro e fora do
consultório, R. estava animado com o tratamento e ficamos quase três meses
inteiros sem mencionar o medo de elevadores. Num de nossos encontros, R. disse
que nunca confiara em nenhum terapeuta como confiava Neste caso, depois de muita frustração com a reestruturação cognitiva, comecei a me questionar sobre o real problema que afligia o paciente. Aos poucos, suas conversas comigo se tornavam mais fluidas e ele chegava, muitas vezes, a dizer que não se sentia numa conversa profissional. Muito comum seria que eu me colocasse em uma posição de marcar a diferença entre aquela conversa e uma conversa pessoal, para que a relação terapêutica não fosse confundida com uma relação de amizade. No entanto, resolvi seguir pelo caminho de deixar que o paciente falasse à vontade, pois isso me parecia mais produtivo para que eu compreendesse o que se passava com ele. Esta postura foi mantida por mim ao longo do tratamento e nos contatos com a família. R. foi-se mostrando aos poucos mais receptivo e mais à vontade com as conversas no consultório. Eventualmente, saíamos para tomar um café ou suco. Eu percebia que R. se comportava de forma muito retraída em situações sociais e comecei a incentivar o atendimento fora do consultório. Quando ele parecia mais intimidado pelo meio social o meu trabalho era mais cansativo, ora estimulando que ele se posicionasse, ora acolhendo sua dificuldade e decidindo a situação com uma simples sugestão, que ele geralmente acatava com alívio. Aparentemente, foi experimentando possibilidades diversas de respostas que R. se deu conta de que poderia responder de uma maneira autêntica, expressando o que realmente sentia, sem que as consequências fossem desastrosas para ele. Quando ele não se posicionava frente a uma situação problema eu não mantinha sempre o mesmo comportamento. Pensava que ele teria que lidar com toda a sorte de reações ao seu modo de ser. O que aconteceu foi que ele nunca conseguiu prever o que eu faria e não ficava previamente ansioso com isso. Quando ele achava que eu iria acolher sua falta de iniciativa eu simplesmente dizia que ele decidia e ficava esperando, muitas vezes sentado, até que ele decidisse. Outras vezes, quando ele se preparava para lidar com o problema, ficando ansioso muita vezes, é verdade, mas elaborando alguma estratégia, eu acabava entrando na situação e resolvendo o problema, o que causava enorme alívio. Penso que essas idas e vindas tenham sido essenciais para que R. pudesse construir uma atitude diferente em relação ao mundo. Em vez de esperar fatos com os quais ele não poderia lidar, o que só lhe deixaria duas opções (esperar que alguém resolvesse ou fugir da situação), R, passou a se preocupar em avaliar as condições que teria para lidar com os imprevistos. As situações do cotidiano pareciam verdadeiros enigmas para R.. Isto foi me fazendo pensar em como ele vinha sendo educado em relação ao alcance de sua autonomia. A relação com a mãe era sobremaneira complicada. Nas entrevistas que fizera com a mãe, tive a sensação de que havia algo de estranho no desenvolvimento de R.. Era como se ele tivesse passado do adorado e protegido bebê para o filho adulto que continua sendo tratado como uma criança, por não ter condições de decidir o que é melhor para si mesmo. A mãe continuava a escolher coisas para ele, que não lutava sempre contra isso, pois seria muito cansativo. Acabava se acomodando na postura de filho que podia ter tudo à mão, no momento que quisesse, desde que deixasse sua mãe decidir o que viria. Questões relacionais
e subjetivas do paciente A forma como R. se relacionava com o mundo mostrou ser um fator importante para seus sintomas. O que antes era o que de mais importante R. teria para contar a respeito de si mesmo passou a ser um detalhe dentro de uma história repleta de frustrações e medo. Constantemente, eu convidada R. a refletir sobre o lugar que vinha ocupando em sua própria vida. Ele dava sinais de insatisfação constantemente e acabava engolindo a sua expressão de descontentamento para evitar conflitos. Isto não acontecia apenas na relação com sua mãe. R. aprendeu a lidar com qualquer nova relação dessa forma. Assim, ele controlaria os danos que poderia sofrer. Várias crenças disfuncionais brotavam nas conversas com ele. Dizia que não tinha jeito com as mulheres e que iria morrer sozinho. Dizia que a única pessoa que poderia lhe dar valor seria mesmo a sua mãe, com quem não conseguia trocar meia dúzia de palavras sem provocar uma discussão. Esses e outros pensamentos eram uma constante na vida de R. Estava vivendo regido por pensamentos completamente disfuncionais. Apesar de reconhecer a importância dos pensamentos no sofrimento de R., eu não estava satisfeito. Alguma coisa me levava a perguntar de onde viriam tais pensamentos. O que acontecia na dinâmica familiar e pessoal dele que fazia emergir uma forma de pensar com tanto menosprezo sobre si mesmo. Em alguns momentos, R. se recusava a falar sobre o que sentia, e eu percebia que esses eram os momentos mais importantes em relação aos aspectos emocionais de sua vida. Deixei que essa recusa passasse em branco por duas vezes, mas na terceira perguntei se ele poderia lidar com essa situação de forma diferente. Eu disse ainda que não era questão de controlar pensamentos ou sentimentos, era simplesmente a assunção de um compromisso: o compromisso de conversar sobre as coisas como um adulto. Como eu previra, este foi um momento crítico da terapia de R.. Ficou duas semanas sem aparecer na terapia, sem dar aviso, sem atender aos meus telefonemas. O caso se agravava porque tínhamos duas sessões semanais agendadas. Na terceira semana, sua mãe entrou em contato comigo para explicar a ausência do filho e, no final, deixou no ar que achava que eu tinha feito alguma coisa que teria sido forte demais para que ele aguentasse, dando apoio ao movimento dele. A situação só andou para outro lado quando eu recusei que sua mãe pagasse pelas sessões. Eu disse que R. deveria pagar. Ela argumentou o quanto pode, mas, ao ver minha posição firme, deu-se por vencida, não sem antes dizer que não estava conseguindo compreender mais o meu trabalho. R. me ligou dois dias depois, pedindo desculpas e confirmando o nosso horário habitual. Quando chegou, fez questão de me entregar um cheque em seu nome, que eu imaginava que seria coberto por um dinheiro dado por sua mãe, mas achei por bem não mencionar minhas ideias e aceitar o pagamento daquela forma. Alguma coisa foi diferente, a partir daquele momento. Eu tinha dado o recado de que ele teria que resolver a situação como um adulto, responsabilizando-se pelas consequências de seus atos. Ao mesmo tempo, eu não me meti na forma que ele encontrou para resolver o problema. A condição que impus para o retorno do tratamento foi que ele me ajudasse mais a entender o que acontecia para que ele se sentisse mal algumas vezes. No mesmo encontro mencionei a minha hipótese do medo generalizado de situações que exigiam dele uma postura adulta. Um medo que fazia ele voltar para um lugar teoricamente seguro: os braços da mãe. No entanto, havia um conflito porque ele mesmo já não se conformava em ocupar esse lugar àquela altura de sua vida. Parafraseando uma antiga supervisora que tive, hoje uma grande amiga, propus a ele um raciocínio com o qual ela costumava me encostar na parede teoricamente: em que lugar ele estava sendo colocado nas relações com as pessoas em sua vida? Ele gostava desse lugar? Se não gostava, o que fazia para mudar? As perguntas foram fazendo efeito ao longo das sessões seguintes. Ele comentava pelo menos uma vez a cada encontro que se sentia num lugar desagradável em alguma situação. Aos poucos, conseguiu falar também o medo que sentia em várias situações e não tinha coragem de contar. Sentia medo de sair sozinho e de que algo lhe acontecesse. Sentia medo de ficar doente. Sentia medos que nunca contara pra ninguém. Sentia medo de ficar sozinho e não suportava a ideia de que algo acontecesse à sua mãe; não por ela, mas por ele mesmo, que não poderia ficar sem ela. O tema da terapia mudou. A partir daquele instante, falaríamos sobre o medo que R. sentia e investigaríamos juntos como seria para ele uma vida sem medo. A vivência fóbica foi aparecendo com mais contundência em suas características, em seu discurso e em seu comportamento. A questão de uma preocupação excessiva consigo mesmo era central nas nossas discussões, posto que reiterasse minha ideia de que a verdadeira fobia estava ali, provocando medo de elevadores, sim, mas também provocando medo de responsabilidades, de crescimento e, em primeira instância, o que era mais urgente naquele momento, medo de se diferenciar da figura materna. A partir daquela conversa, R. se mostrou menos reativo à ideia de falar sobre sua relação com a mãe e sobre as dificuldades que tinha em dizer não a ela. Começou a se imaginar discordando dela, prestando atenção mais aos ganhos do que às perdas. Aos poucos, tal ideia pareceu seduzir R.. A ponto de um dia ele chegar ao consultório chorando porque estava com medo de abandonar sua mãe à própria sorte. Com o decorrer da conversa, acabou ficando claro para ele que estava com medo de brigar com sua mãe, por si mesmo. R. construiu, ao longo de sua vida, a crença de que era uma pessoa altamente indesejável. Não conseguia se sentir atraente para as mulheres e acabou por desistir de investir em alguma relação amorosa. O histórico de visão negativa de si mesmo foi piorando à medida que sua mãe reforçasse cada comportamento de dependência que partisse dele. Assim, o processo de diferenciação do adulto jovem em relação às suas figuras parentais estava definitivamente prejudicado. Com cerca de um ano de terapia, mais o extenso histórico antes que chegasse ao meu consultório R. relatou experimentar alguma melhora em questões relacionadas ao modo como lidava com sua família, principalmente, com sua mãe. Foi nesse momento que declarou ter mais confiança em mim do que já tivera em qualquer outro profissional antes. Intuitivamente, e já ciente de que a relação deixava muitas vezes de ser apenas a relação entre terapeuta e paciente, levantei-me, convidei R. para o nosso habitual café do fim do atendimento e fui caminhando em direção ao elevador. Quando ele percebeu o que eu fazia, parou na porta do consultório, hesitante. Eu disse que se ele confiava tanto assim em mim, iria acreditar que estava na hora de mostrar pra todos os elevadores que quem mandava na vida dele era ele mesmo. Foi a primeira vez que vi R. entrar num elevador. Depois de duas horas, pulando de um elevador para outro. Resolvi que ele deveria ir sozinho, pois afinal eu tinha mais gente para atender naquele dia. Discussão Durante todo o processo, foi muito forte a minha sensação de que R. chegava à terapia por causa da insistência de sua mãe. Isso durou até o episódio acima descrito, em que ele foi questionado seriamente e convocado a lidar com a sua vida como adulto. Considero que, dali pra frente, o que apareceu, de maneira a seguir com o tratamento ou não, foi a expressão da vontade autêntica de R.. Ele voltou às sessões de outra forma, com outra atitude. A minha flexibilidade para manter alguns limites e negociar outros parece ter ajudado R. a construir a ideia de que poderia falhar no cumprimento de algumas regras, mas que eu cobraria que não abrisse mão da responsabilidade por suas falhas. Quando se deu conta de que lidar com suas falhas era algo que não causaria nenhuma implosão nele, R. passou a abrir as portas para o mundo de uma maneira diferente. Lidar com as crises de raiva e depressão da mãe deixou de ser algo impossível, mas não se tornou algo agradável. R. começou a tomar contato com o que é desagradável na vida sem se achar incapaz de vencer os percalços. Algo que considero importante na discussão deste caso gira em torno, mais uma vez, da forma como nos apegamos a molduras teóricas algumas vezes. Antes de chegar até meu consultório, R. fez avaliações com dois outros profissionais que avaliaram seu caso e, após algumas das atuações de R. se recusaram a continuar atendendo. Um deles fez contato comigo, dizendo que aquele seria um caso provável de transtorno de personalidade disfarçado de fobia, e que não haveria como tratar o caso de R. O primeiro comentário a esse respeito é de que devemos sempre avaliar o que nos aparece, antes de seguir o conselho de qualquer colega, por mais respeitável que seja. Isso nada tem a ver com desconfiança, mas sim com a crença de que as relações se estabeleçam de maneira diferente em cada situação diferente. O paciente pode ter sentido e provocado sensações em meus colegas que os fizeram acreditar que fosse um caso muito grave, ou até mesmo intratável. Cabe a mim, então, abrir espaço para que uma nova relação se estabeleça na vida desse paciente: a relação comigo. Caso essa relação ratifique a opinião de meus colegas, o melhor caminho é reconhecer a minha limitação e encaminhar o paciente para outro. Felizmente, o que aconteceu oi o contrário. Outro ponto que vale a pena considerar é a questão da reestruturação cognitiva propriamente dita. A ideia de corrigir, reeducar, modificar pelo questionamento a forma de pensar de um determinado paciente nem se sempre se revela eficaz. Podemos alcançar a reestruturação cognitiva simplesmente convivendo com o paciente e estabelecendo uma relação com ele. Uma relação que seja diferente da tendência que ele apresent e que lhe causa sofrimento. Nós podemos, muitas vezes, apresentar ao paciente uma forma de convivência mais saudável do que aquela à qual ele está acostumado. Nós podemos, e devemos, nos recusar a entrar no jogo patológico familiar, que muitas vezes é um fator reforçador do sofrimento do paciente. Caso consigamos não entrar nesse jogo e manter o vínculo, já teremos construído uma ampliação natural das potências existenciais desse paciente. Pode parecer que, com este trabalho estejamos criticando ou procurando uma alternativa à reestruturação cognitiva. Isso não é verdade. A proposta que aqui se faz é de um novo olhar para os caminhos que possam conduzir a uma reestruturação das formas de organizar o mundo. A Terapia Cognitiva Fenomenológica busca uma ampliação do potencial existencial do paciente. E não é porque temos as palavras “fenomenológica” e “existencial” em uma mesma frase que estamos falando de Terapia Fenomenológico-Existencial. A Terapia Cognitiva Fenomenológica (TCF) é uma terapia que dialoga com o paciente para construir com ele, de forma racional e afetiva, novas alternativas de vida. Abre espaço para novas formas de se entender o sofrimento humano, mas, sobretudo, tenta lidar com a verdade como um conceito construído, diferentemente da realidade, assunto polêmico que merece, por si só, um estudo completo. Por último, e talvez o mais importante, vimos aqui reiterar a ideia de que a TCF trabalha com um objetivo principal essencialmente clínico: o objetivo de compreender a psicologia dentro dos processos patológicos pelos quais passam inúmeras pessoas. Esta é a essência do estudo da Psicopatologia, segundo Minkowski. Se uma pessoa aparentemente passa por um processo patológico, nossa função clínica nos leva a compreender o que se passa e, com base em nossa intuição, ou apreensão das essências, segundo Husserl, compor uma avaliação, um diagnóstico e um projeto terapêutico. Este foi o processo por mim vivido ao lado de R., processo que deu ótimos resultados para ele e para os seus. Referências Bibliográficas Baringoltz, S. e Levy, R. (orgs.). Terapia cognitiva: del dicho al echo. Buenos Aires: Polemos, 2007. Bastos, C. L. Manual do Exame Psíquico: uma introdução prática à psicopatologia. Rio de Janeiro: REVINTER, 2000. Beck, J. Terapia cognitiva para desafios clínicos: o que fazer quando o básico, não funciona. Porto Alegre: Artmed, 2007. Beck, J. Terapia Cognitiva: teoria e prática. Porto Alegre: ArtMed, 1997. Bello, A. A. Fenomenologia e Ciências Humanas. Bauru; Edusc, 2004. Bruns, M. A. T. e Holanda, A. F. (orgs.) Psicologia e Fenomenologia: reflexões e perspectivas. Campinas: Alínea, 2007. Goto, T. A. Introdução à Psicologia Fenomenológica: a nova psicologia de Edmund Husserl São Paulo: Paulus, 2008. Husserl, E. Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia fenomenológica: uma introdução geral à Fenomenologia pura. Aparecida do Norte: Ideias e Letras, 2006. Jaspers, K. Psicopatologia Geral. (vols. 1 e 2) São Paulo: Atheneu, 2005. Leahy, R. Técnicas de terapia cognitiva: manual do terapeuta. Porto alegre: Artmed, 2006. McMullin, R. E. Manual de técnicas em terapia cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2005. Minkowski, E. Range, B. (org) Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2011. Safran, J. D. Ampliando
os Limites da Terapia Cognitiva: o relacioanmento terapêutico, a emoção
e o processo de mudança. Porto
Alegre: ArtMed, 2002. Werneck Filho, B. D. Fenomenologia como orientação filosófica para a psicologia clínica. In Psychiatry on line Brazil, vol. 14, nº8;2009.
| ||