

Volume 15 - 2010
Editor: Giovanni Torello
  Volume 15 - 2010 Editor: Giovanni Torello |





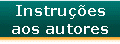


|
Janeiro de 2010 - Vol.15 - Nº 1 Psicanálise em debate O DECLÍNIO DA AUTORIDADE NO CINEMA CONTEMPORÂNEO (*) Sérgio
Telles * O tema que nos foi proposto - o declínio da autoridade no cinema contemporâneo - dá oportunidade para retomarmos uma questão que tem merecido nossa atenção e que continua nos desafiando com sua amplitude e importância. Se consultarmos um bom dicionário, veremos que “autoridade” designa o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de impor obediência e exercer o comando, de determinar leis e julgamentos, bem como a pessoa investida deste poder (The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000, Houghton Mifflin Company). Ao se pesquisar a origem da palavra “autoridade”, descobrimos que ela deriva de “auctoritas”, figura do direito romano. Nas leis da antiga Roma, “Auctoritas” se opunha a “potestas” e “imperium”. Embora os três termos se refiram a “poder”, vamos ver que têm diferentes conotações. “Potestas” diz respeito ao poder coercitivo próprio dos magistrados romanos, ao promulgarem decretos e editais, bem como no julgamento das ações entre litigantes. Esse poder era considerado análogo ao poder militar, embora em grau menor. “Potestas” contrasta fortemente com “auctoritas”, o poder do Senado. Enquanto os magistrados tem “potestas”, que é a manifestação de um poder socialmente reconhecido, os senadores tem “auctoritas”, que é a manifestação de um conhecimento socialmente reconhecido. Segundo a legislatura romana, ambos eram necessários e se complementavam no governo da res publica.
Os magistrados mais importantes, como os cônsules e pretores, tinham o “imperium”, a forma mais alta de “potestas”, ligado ao poder de comandar, próprio do “imperator” (general na ativa). Ou seja, “Imperium” remete diretamente ao poder militar ( Collins English Dictionary – Complete and Unabrigded, 6th Edition, 2003, HarperCollins Publisher). “Imperium” era delegado pelo estado a um determinado cidadão para defender seus interesses e garantir a obediência à lei. Um cidadão com “imperium” tinha, em princípio, autonomia e autoridade para aplicar a lei no âmbito de sua magistratura. “Imperium” tinha gradações e se submetia ao “potestas” e ao “auctoritas”.
Grosso modo, neste contexto, se “poder” genericamente significa a capacidade ou habilidade física ou moral de alcançar os fins almejados, “autoridade” refere-se ao poder legitimo, ao direito de exercer tal poder amparado pelas leis, algo diferente do poder exercido pela força e pela coerção. Um exemplo simples - enquanto a massa tem o poder de punir um criminoso através do linchamento, apenas os tribunais têm a autoridade para aplicar a pena capital. Ao cair o Império Romano, algumas de suas leis e instituições políticas sobreviveram. Durante a alta Idade Média, o cristianismo foi regido pelo Papa e pelo Sacro Império Romano. O primeiro tinha o poder espiritual – identificado com “auctoritas” e o segundo detinha o poder temporal, mais identificado com “potestas” e “imperium”. No inicio, o Papa coroava o Imperador e este indicava o Papa, mas depois da Controvérsia da Investidura, ocorrido no século IX e considerado o maior conflito entre a Igreja e o Estado da Idade Média, o Papa passou a ser indicado por um colégio de cardeais. No paulatino enfraquecimento do Sacro Império Romano, cujos remanescentes se mantiveram até o inicio do Século XIX, os reinados se tornaram independentes. Tracei aqui em rápidas pinceladas a origem da palavra “autoridade” para entendermos o universo semântico por ela abrangido, que retrocede até mesmo antes de Roma, desde que o exercício da autoridade política e os conflitos entre liberdade e autoridade eram questões centrais para filósofos políticos gregos como Aristóteles e Platão, temas que mantêm sua pertinência e interesse até o presente. Em nossos tempos atuais, com os recursos oferecidos pelas ciências sociais, o exercício da autoridade tem sido estudado na família, nos em grupos pequenos ou nas grandes organizações sociais, como os modernos estados. Em psicanálise, “autoridade” evoca a autoridade paterna, o que nos remete ao mito da horda primitiva em “Totem e Tabu”, onde Freud propõe a gênese psíquica das leis que permitem a organização político-social, leis decorrentes do assassinato do pai, um paradoxo que traz as marcas próprias dos mecanismos inconscientes. Esta construção psicanalítica estabelece uma íntima ligação entre a estrutura privada da família e as organizações públicas sociais e políticas. O exercício do poder, o estabelecimento da lei e a força necessária para sua implantação parecem decorrer deste modelo primário do poder do pai que estabelece e impõe as leis e das formas como os filhos se rebelam ou acatam este poder. Por isso mesmo, diz Roudinesco em “A família em desordem”: “A família é (...) o primeiro modelo das sociedades políticas; o chefe é a imagem do pai, o povo é a imagem dos filhos, e todos, tendo nascido iguais e livres, não alienam sua liberdade senão por necessidade pessoal” (p. 37). Falar sobre o declínio da autoridade no meio analítico evoca o declínio da autoridade paterna, o enfraquecimento da imagem do pai, o final do patriarcalismo, cujo inicio Roudinesco situa na Revolução Francesa, quando – ato inédito na história e de profundas repercussões - o rei foi deposto e decapitado. Representante direto do poder real e divino no âmbito da família, o patriarca teve uma longa agonia desde então, chegando exangue aos nossos dias. Roudinesco mostra como a antiga autoridade paterna sobre os filhos foi substituída pela autoridade compartilhada com a mãe e com o estado, o que, não poucas vezes, leva como um subproduto indesejado, o acréscimo da autoridade ou poder materno ou mesmo a uma “maternalização” da função paterna. Diz ela: “Assistiu-se (...) durante todo o século XX, uma `maternalização` da família nuclear, que se traduziu, para a psicanálise, em um relativo abandono do freudismo clássico em prol das teorias de Melanie Klein” (p.106-7). O enfraquecimento da figura paterna – para o que muitos fatores convergiram – seria uma das causas da chamada civilização narcísica, com suas patologias especificas decorrentes da permanência, em grau variado, da relação fusional com a mãe, o que leva à persistência da onipotência infantil, à intolerância às frustrações, à facilitação de condutas aditivas e ao desencadear das chamadas “síndromes de pânico”, que, como Litvinoff afirma, podem ser entendidas como mecanismos defensivos fóbicos que agem como suplentes da claudicante função interditora paterna, protegendo o sujeito de uma liberdade excessiva que ameaça sua própria integridade. Penso que quando se fala psicanaliticamente em declínio da autoridade paterna e suas conseqüências danosas, não deve ser isso confundido com uma lamentação nostálgica pela queda do patriarcado e seu autoritarismo, com o que o poder paterno foi muitas vezes confundido. O poder patriarcal é muitas vezes exercido de forma violenta e traumática, sendo o pano de fundo especifico para o estabelecimento do complexo de Édipo. Podemos ver um bom exemplo dos estertores mais recentes desta configuração no pungente filme “Cada um vive como quer” (Five easy pieces, 1970) de Bob Rafelson. Ali vemos o filho reagindo de forma auto-destrutiva à ambivalência com a qual encara o pai e seus valores. Outro bom exemplo do conflito edipiano bem definido é “Wall Street” (1987), de Oliver Stone. Como mostrou Lacan, a efetiva autoridade paterna do ponto de vista psicanalítico é simbólica, é o exercício da interdição da relação dual narcísica com a mãe, introduzindo a criança no mundo triangular, onde o outro preside. Mesmo assim, esta interdição não pode deixar de implicar no exercício de uma certa violência por parte do pai (instância interditora). É importante lembrar que este poder paterno não pode ser dissociado do poder materno, pois o pai só pode exercê-lo com a anuência de sua companheira, a mãe da criança. Assim, psicanaliticamente, o poder paterno e materno são indissociáveis e complementares. O filme “Caráter” (1997) de Mike van Diem ilustra bem esta problemática. Ali vemos um pai, com todos os emblemas do poder patriarcal (força física, dinheiro, poder político) ser impedido de exercer a função paterna pela mãe de seu filho, que o impede de dele se aproximar. Vê-se que “autoridade” está vinculada ao conceito de poder, força, direito, leis. O poder está sempre ligado à força – sem ela não poderá ser exercido, como lembra Derrida em “Força da lei” (p. 8). O uso desta força será legitimo ou não, respeitará as leis ou as ignorará, terá ou não a “autoridade” de seu lado. Dando um outro nível de complexidade ao problema, Derrida mostra como as leis e o direito estão dissociados da justiça, revelando essa discordância uma dimensão indecidível na medida em que o direito “parece sempre supor a generalidade de uma regra, de uma norma ou de um imperativo universal”, enquanto a justiça “deve sempre concernir a uma singularidade, indivíduos, grupos, existências insubstituíveis, o outro ou eu como outro, numa situação única” (p. 31). Assim, analiticamente, consideramos “legitimo”, ou seja, com “autoridade”, o exercício do poder paterno na medida em que ele executa a castração simbólica, mesmo se se apresenta sob a forma violenta do patriarcalismo, situando-se então talvez mais próximo do “imperium” ou “potestas”. Mas o poder paterno pode “ilegítimo” ou sem “autoridade”, ou seja, pode ser perverso (pais que são representantes da Lei e a violam, praticando o incesto, por exemplo) ou omisso, não exercido de forma alguma, deixando espaço para que outros o exerçam, como a mãe. Há inúmeros exemplos deste quadro no cinema. Para citar alguns, lembro “O pântano” (La Cienaga) de Lucrecia Martel, onde vemos crianças cuidando de pais e mães infantilizados, alcoólatras, irresponsáveis, com quem vivem numa promiscuidade quase incestuosa); “Felicidade” (Happiness, 1998) e “Histórias Proibidas” (Storytelling, 2001)” de Todd Solondz, que mostram famílias com pais pedófilos, impotentes, controlados pelos filhos com quem tem relações narcísicas; “Beleza Americana” (American Beauty, 1999) de Sam Mendes, com figuras paternas destruídas, incapazes de sustentarem a lei, filhos perdidos); “Tudo sobre minha mãe”, de Almodóvar, e “nada sobre meu pai”, como escrevi na ocasião em que o filme foi exibido; “Veludo Azul” (a partir do AVC do pai, o jovem volta à cidade e se depara com o lado negro da vida; ”Anticristo” (a luta contra o “reino das mães), “Procurando os Friedmans” (extraordinário documentário mostrando a família de um pedófilo – entre os muitos aspectos do filme, sobressai a questão mencionada por Derrida ao distinguir “justiça” de “lei”). Em chave cômica, temos o “Uma babá quase perfeita”(“Mrs. Doubtfire”, 1993) de Chris Columbus, onde a “maternalização” da paternidade não poderia ser mais explícita. De que maneira se refletiria no campo social o declínio do poder simbólico paterno que constatamos ocorrer no seio das famílias, com os já referidos efeitos deletérios no processo de constituição do sujeito? Haveria alguma vinculação entre o declínio da autoridade paterna e a ascensão dos totalitarismos no século passado? Seria possível articular o enfraquecimento da figura paterna com o aparecimento de “pais” formidáveis, idealizados, onipotentes, cujas representações mais cabais são Hitler, Stalin, Mao? Cumpririam estes e outros políticos que exercem um poder ilegítimo em nossas democracias formais alguma função simbólica, ocupando a vacância e a omissão de um pai legitimo, um pai com “autoridade”? Satisfariam eles a nostalgia por este pai? A aceitação pelas massas de tais políticos significaria que é melhor ter um pai mesmo que perverso ou louco do que não ter nenhum e ficar entregue ao poder das mães, ao misterioso e primitivo reino das mães? Zizek desenvolve uma hipótese neste sentido, num comentário à “A estrada perdida” (Lost Highway, 1997) de David Lynch. Ali contrapõe as figuras paternas mostradas em “Festa de Família” (Festen, 1998) de Thomas Vinterberg e “A vida é bela” (La vita è bella, 1997) de Benigni. O primeiro é o patriarca desmascarado pelos filhos em suas práticas incestuosas no dia de seu aniversário de 60 anos, o outro é o pai maternalizante que “protege” o filho da dura realidade de um campo de concentração. Zizek diz ser melhor ter um pai louco e sedutor, como o de Vinterberg do que o pai maternal de Benigni. Estende seu argumento para explicar a Síndrome das Falsas Lembranças (“False Memory Syndrome”), epidemia de histeria coletiva que acometeu os Estados Unidos nos anos 80 e 90, quando milhares de pessoas “recordaram” ter sido vitimas de abusos sexuais e torturas inomináveis por parte de seus pais. Esta nova eclosão da antiga “teoria da sedução” de Freud foi entendida por Zizek como uma tentativa desesperada de recuperar a interdição simbólica do pai por parte de uma sociedade norte-americana inteiramente entregue ao poder das mães. Ou seja, a Síndrome das Falsas Lembranças evidenciava que é melhor ter um pai louco, sedutor, estuprador do que não ter nenhum e ficar no lugar fusional psicótico com a mãe (p. 30, 34). A idealização do pai na figura de Hitler, como vemos em “O Triunfo da Vontade” (Triumph des Willens, 1935), paradigmático filme de Leni Riefenstahl, responderia ao mesmo anseio interpretado por Zizek? Seria o delírio megalomaníaco do povo alemão identificado com o Führer um efeito do declínio da autoridade paterna? “O Triunfo da Vontade” mostra de forma estilizada e ritualística a ascensão ao poder de uma liderança espúria, ilegítima, sem “autoridade”- apesar de ter ela fabricado para si mesma um elaborado aparato legal, configurando assim de forma também radical a profunda dissociação entre o direito (as leis) e a justiça, como pensa Derrida. “O Falsário” (Die Fälscher / The Counterfeiter - 2007) de Stefan Ruzowitzky - assim como inúmeros outros filmes ambientados em campos de concentração – coloca a a questão de forma mais concreta, mostrando o exercício louco do poder, a onipotência narcísica no trato com o Outro, que é visto como objeto desprezível a ser descartado, sob o qual as pulsões sexuais e destrutivas podem ser descarregadas livre e impunemente. Se estes filmes ainda guardam um certo verniz ideológico, Pasolini o destrói em seu filme “Saló ou 120 dias de Sodoma” (1975), reduzindo o campo de concentração à expressão máxima de um narcisismo absoluto que leva ao exercício do poder mais desenfreado sobre o Outro, visto como mero alvo de irrestritos desejos sexuais e agressivos. De fato, em “Saló” Pasolini mostra uma aguda percepção da obra de Sade ao transpô-la para o nazi-fascismo e equiparar o castelo sadiano aos campos de concentração. Os quatro senhores estabelecem as leis que deverão ser obedecidas inflexivelmente por suas vitimas, sobre as quais têm poder de vida e morte. Mas também fazem eles questão de transcender todos os limites estabelecidos pela cultura, como a prática da coprofagia, vivida por eles como a marca da excepcionalidade, aquilo que lhes dá a ilusão de estar numa posição de inacessível superioridade em relação ao comum dos mortais. São deuses que se divertem ao ver a fragilidade e a dor dos humanos. Pasolini, entretanto, não deixa de apontar para a cumplicidade, a apatia, a inércia e a indiferença do povo frente a seus tenebrosos algozes, como mostra a chocante cena final. O mesmo anseio pelo poder simbólico do pai que Zizek detecta na Síndrome das Falsas Lembranças e, eventualmente, como sugiro, na idealização de lideres totalitários, poderia estar presente nas democracias atuais, nas quais o poder ilegítimo e sem “autoridade” se exerce de forma mais sutil, através da corrupção, da alienação, da manipulação da informação e da propaganda política. Dever-se-ia a este desejo – entre tantos outras variáveis, como as crenças ideológicas, a alienação, a ignorância – a aceitação passiva por parte da sociedade de todos os abusos e mentiras de políticos eleitos por ela mesma? Não poderia terminar sem mencionar aquele que possivelmente é o mais importante evento cinematográfico dos últimos tempos no Brasil, não tanto por seus aspectos estéticos e sim pela dimensão política e que, por isso mesmo, merece nossa atenção. Refiro-me ao filme “Lula, o filho do Brasil”, de Fábio Barreto.
Filmes citados “Beleza Americana” (American Beauty, 1999) de Sam Mendes “Anticristo” (Antichrist, 2009) de Lars von Trier “Cada um vive como quer” (Five easy pieces, 1970) de Bob Rafelson. “Veludo Azul” (Blue Velvet, 1986) de David Lynch “O triunfo da Vontade” (Triumph des Willens 1935), de Leni Riefenstahl “Saló ou 120 dias de Sodoma” (1975) de Pier Paulo Pasolini “O falsário”(Die Fälscher / The Counterfeiter - 2007) de Stefan Ruzowitzky “Estrada Perdida” (Lost Highway, 1997) de David Lynch “Festa de Família”(Festen, 1998) de Thomas Vinterberg “A vida é bela” (La vita è bella, 1997) de Roberto Benigni. “Procurando os Friedmans” (Caputuring the Friedmans, 2003) de Andrew Jarecki “Felicidade” (Happiness, 1998) de Todd Solondz “Histórias Proibidas” (Storytelling, 2001)” de Todd Solondz “O pântano” (La Cienaga, 2001) de Lucrecia Martel Caráter” (Karakter, 1997) de Mike van Diem “Uma babá quase perfeita”(Mrs. Doubtfire, 1993) de Chris Columbus, “Wall Street” (1987), de Oliver Stone “Tudo sobre minha mãe” (Todo sobre mi madre, 1999) de Pedro Almodovar
Referências Bibliográficas Roudinesco, Elisabeth – A família em desordem – Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2003 Zizek, Slavoj – The Art of the ridiculous sublime – on David Lynch’s Lost Highway, Walter Chapin Simpson Center for the Humanities, University of Washington, Seattle, USA, 2000 Derrida, Jacques – Força de Lei – Martins Fontes, São Paulo, 2007 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000, Houghton Mifflin Company Collins English Dictionary – Complete and Unabrigded, 6th Edition, 2003, HarperCollins Publisher Litvinoff, Diana Sahovaler de – El sujeto Escondido en la Realidad Virtual – Letra Viva, Buenos Aires, 2009, p. 207 (*) Palestra realizada na I Jornada Paulista de Cinema e Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP em 10/12/2009
| ||