

Volume 10 - 2005
Editor: Giovanni Torello
  Volume 10 - 2005 Editor: Giovanni Torello |





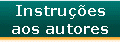


|
Fevereiro de 2005 - Vol.10 - Nş 2 Psicanálise em debate O animal que somos - Sérgio
Telles Jacques Derrida em seu “O animal que logo sou. (A Seguir)” (Ed. Unesp, 2002, São Paulo, 92 p., tradução de Fábio Landa) trata da enigmática relação que nós, enquanto homens, mantemos com os animais. O livro decorre de uma aula por ele proferida em 1997, num terceiro colóquio realizado em Cerisy (França) em torno de sua obra. Cada um dos vários trabalhos ali apresentados foi comentado por Derrida e o conjunto todo foi posteriormente publicado sob o título “O animal autobiográfico”. Nesse texto, “O animal que logo sou. A seguir” [no original L´Animal que donc je suis. (À suivre)] Derrida, mais uma vez, mistura depoimentos pessoais (“autobiográficos”) a suas elucubrações filosóficas, desconstruindo não só as barreiras entre os gêneros de escritura, mas também os próprios conceitos, referências e categorias que nos organizam e possibilitam o pensamento. Seguindo sua trilha, Derrida prefere nunca explicitar claramente as conclusões às quais seu pensamento poderia conduzir. Apesar de apontar todos os caminhos que levam até a elas, termina sempre por deixá-las em aberto, sem negar as aporias e impasses a elas inerentes, delegando a seus leitores o trabalho e o compromisso de a elas chegarem, conscientes do fechamento e enclausuramento do pensamento nisso implicado. Desta forma, Derrida se afasta de qualquer traço impositivo ou dogmático. Evita bater de frente com resistências muito arraigadas que seu texto, se levado - como deve ser - a suas últimas conseqüências suscitará. Não deixa de ser uma tática expositiva e política, tal como aponta em “Estados d´Alma da Psicanálise”, ao abordar a correspondência trocada entre Freud e Einstein, sobre a guerra. Ali, Freud aconselha uma abordagem indireta no manejo da pulsão de morte: o não enfrentá-la diretamente, contornando-a, sem ignorá-la. A forma elíptica com a qual Derrida aborda seus temas não se reduz a meras questões estilísticas. É a própria prática da desconstrução em ato: ao invés de aprisionar o sentido em conceitos, Derrida procura sempre implodir ou explodir tais conceitos, para com isso demonstrar o quanto que, para existir como tal, o conceito termina por excluir e desconsiderar uma faixa significativa de fatos e de realidades. Desta forma, Derrida procura integrar o que fora negado ou afastado, o que abre novas perspectivas e idéias. É assim, a meu ver, que se estabelece a íntima relação entre desconstrução e psicanálise, como já disse René Major. Derrida inicia sua exposição falando de sua estranheza ao se sentir observado nu por um gato. Esse olhar extremadamente “outro” do animal o questiona em seu âmago e o faz indagar-se sobre si mesmo, sobre sua própria essência (quem sou eu?), bem como sobre a relação que estabelece, enquanto homem, com esse outro vivente, o animal - um ser ao mesmo tempo tão próximo e abissalmente distante. Essa experiência o faz constatar que, na relação dos homens com os animais, há duas possibilidades. Uma, a mais freqüente, é o homem observar o animal, nele, muitas vezes, projetando sua própria psique e sentimentos, o que dá vez a inúmeras metáforas e fábulas onde os animais - então humanizados - jogam papel importante. A outra, mais complicada, somente tentada por “poetas e profetas”(p. 34), é tentar imaginar como o animal nos vê, não lhe atribuindo nossas características e sim tentando criar esse impossível: ver-nos como um animal nos vê - tal como ele mesmo, Derrida, se viu observado nu por um gato. A própria questão da nudez já marca a imensidão do abismo que nos separa, a nós homens, dos animais. O animal não está nu, pois não se sabe nu, tal como Adão estava nos inícios dos tempos. Somente ao comer do fruto proibido, Adão se vê nu e esconde suas vergonhas. E é justamente no texto bíblico do Gênesis onde Derrida vai buscar os relatos da origem da relação entre homens e animais. Ali está estabelecido que os animais foram criados antes por Deus e, somente depois disso e “à sua imagem e semelhança”, Deus cria o homem, permitindo que ele (o homem) nomeasse os animais, lhes desse seus nomes. Com isso fica marcada a diferença e superioridade do homem frente aos animais, além de ressaltar a gênese da linguagem, da capacidade de falar, apanágio do homem. Derrida tece interessantes comentários sobre esse fragmento do Gênesis que mostra a curiosidade evidenciada por Deus frente a nomeação que Adão fará dos animais, o que apontaria para uma falha, uma incompletude na onipotência divina que, se conseqüente consigo mesma, tornaria impossível tal curiosidade, dado que de antemão tudo saberia em sua onisciência: “Deus deixa pois Isch (Adão) chamar só, ele lhe concede dar os nomes em seu nome - mas apenas para ver. Esse “para ver” marca ao mesmo tempo a infinitude do direito de olhar de um Deus todo-poderoso e a finitude de um Deus que não sabe o que lhe vai ocorrer com a linguagem. E com os nomes. Deus não sabe em suma o que ele quer afinal: finitude de um deus que não sabe o que ele quer em relação ao animal, isto é, enquanto a vida do vivente enquanto tal, de um Deus que paga para ver sem ver o que está por vir, de um Deus que dirá eu sou o que sou sem saber o que vai ver quando um poeta entra em cena dando seu nome aos viventes”. (grifos do autor) (p.38/9). De qualquer forma, os animais, no relato bíblico, nos antecedem e nos viram nascer, são viventes antes de nós mesmos e assistem ao nosso aparecimento. Estamos com o animal, depois do animal, próximo, antes dele? - são perguntas explicitadas por Derrida. Comparando duas traduções do Gênesis - a de Chouraki e de Dhormes - Derrida aponta como o homem vem depois dos animais e especula o que isso significa: “Nos dois casos, no duplo sentido da palavra, o homem está depois do animal. Ele o segue. Esse “depois” da seqüência, da conseqüência ou da perseguição, não se dá no tempo, não é temporal: ele é a gênese mesma do tempo” (grifos meus).(p. 38). Derrida sublinha que é a linguagem, a capacidade que Adão tem de falar, que tradicionalmente marca a linha divisória entre o homem e o animal. Mas insiste que é uma violência privar o animal de sua capacidade de se manifestar frente a própria linguagem do homem. Derrida lembra que há uma tradição que atribui uma “profunda tristeza” ao animal por seu mutismo, sua falta de linguagem. Cita Benjamim, que inverte um pouco essa afirmação ao dizer que a tristeza da natureza não se deve propriamente à falta de linguagem, mas por ter-se visto na posição de passivamente receber os nomes, pois receber um nome seria o “pressentimento de um luto”: “Luto pressentido, pois parece-me tratar-se, como em toda nomeação, da notícia de uma morte por vir segundo a sobrevivência do espectro, a longevidade do nome que sobrevive ao portador do nome. Aquele que recebe um nome sabe-se mortal ou morrendo, justamente porque o nome quereria salvá-lo, chamá-lo e assegurar sua sobrevivência”.(p.45). Por mais instigante que seja tal argumentação, Derrida não a acompanha. Ela pressupõe uma redenção, uma superioridade do homem frente ao animal. Derrida se apóia numa tradição grega e abraâmica (judeu-cristã-islâmica), prometeica e adâmica - como o mito de Prometeu (este rouba o fogo - ou seja, as artes e técnicas - para compensar o erro de Epimeteu, que equiparara completamente todas as raças de animais, deixando o homem nu e desprotegido frente a eles, os animais - p.43). Esse enfoque mostra o homem como inferior aos animais e é justamente partindo dessa inferioridade que ele vai construir sua propriedade e superioridade. Da falta e falha faz sua força. Parece-me que Derrida contrapõe a versão do Gênesis, que diz que o homem falou antes da queda, ou seja, quando ainda estava no paraíso, no gozo de uma superioridade frente aos animais, à versão dita greco-abraâmica dos mitos de Prometeu e Epimeteu, nos quais a fala aparece como um compensação de uma falta, de uma falha, não como a evidencia de uma superioridade, ou seja, a fala aparece depois da queda. A questão da queda, da culpa pelo pecado, da perda da onipotência, é fundamental para o raciocínio de Derrida. É ela que transforma qualquer autobiografia numa confissão. Mas teria havido um momento pré-queda, como aquele no qual Adão nomeia os animais, onde a autobiografia não seria uma confissão? Esse fato - o não existir uma autobiografia que esteja isenta da confissão do mal provaria a universalidade da culpa que - afastada a explicação religiosa da afronta aos desígnios divinos, só pode contar com a descoberta freudiana para sustentar-se. A meu ver, esse antes e esse depois que seria a gênese do tempo, e que no Gênesis diz respeito à criação do mundo e dos animais antes do homem, em termos analíticos diria respeito a um antes e um depois do rompimento da relação narcísica primária, a perda da coisa, da fusão com a mãe. O tempo se instala aí, antes não existiria. A noção do tempo implica a noção de separação do objeto primário e dos encontros e despedidas deste objeto. Por outro lado, a versão do Gênesis sobre o aparecimento da linguagem, que se dá no momento em que Adão nomeia os animais, ou seja, antes da queda, quando ainda gozava do paraíso, parece mais distante da concepção psicanalítica que vê a linguagem como a representação simbólica do objeto perdido. Nisto a visão psicanalítica se aproxima do mito prometeico, pois ele situa o aparecimento da fala como uma suplência de uma falta e de uma falha: Prometeu nu e exposto frente aos animais aptos e desenvoltos. Derrida se apóia em Heidegger, que se pergunta se o animal possui um Dasein, um ser para o destino, regido pelo tempo. Para Heideger, o animal seria a vida em estado puro. Mas o que seria essa vida em estado puro? Seria um cair fora do tempo? Mas falar do animal, reflete Derrida, o que é exatamente isso? “Animal” é a palavra que o homem se autorizou para denominar esses outros viventes. Entenda-se que ao chamar o animal de vivente, Derrida está desconstruindo o conceito ou categoria animal, que implica numa variedade de pressupostos nele embutidos. Por exemplo: a dissolução radical da seqüência biológica que nos aproxima, a nós homens, dos animais, cuja conseqüência imediata é o enclausuramento no mito bíblico, que - por sua vez - remete á ilusão religiosa da criação divina. Nós homens, fomos feitos por um Deus, à sua imagem e semelhança, ou somos o último elo de uma longa cadeia de viventes, somos os últimos dos animais? Derrida, em sua desconstrução do conceito de animal, faz duas proposições - uma é evidenciar a enorme agressividade e destrutividade praticada pelos homens contra esses outros viventes que chamamos “animais”, coisa que nos últimos dois séculos atingiu níveis nunca dantes atingidos:”No decurso dos dois últimos séculos, estas formas tradicionais de tratamento do animal foram subvertidas, é demasiado evidente, pelos desenvolvimentos conjuntos de saberes zoológicos, etológicos, biológicos e genéticos sempre inseparáveis de técnicas de intervenção no seu objeto, de transformação de seu objeto mesmo, e do meio e do mundo de seu objeto, o vivente animal: pela criação e adestramento a uma escala demográfica sem nenhuma comparação com o passado, pela experimentação genética, pela industrialização do que se pode chamar a produção alimentar da carne animal, pela inseminação artificial maciça, pelas manipulações cada vez mais audaciosas do genoma, pela redução do animal não apenas à produção e a reprodução superestimulada (hormônios, cruzamentos genéticos, clonagem, etc) de carne alimentícia mas a todas as outras finalidades a serviço de um certo estar e suposto bem-estar humano do homem”(p.51). Essa violência contra os animais, que Derrida - para provocar - chama de verdadeiro genocídio (p.52) - mesmo porque não são poucas as espécies em permanente risco de extinção - não pode mais ser denegada. Se é verdade que os animais não falam, não pensam, é inegável que eles sofrem. Essa é a pergunta chave, segundo Derrida, no tratamento ético que devemos ter no trato com esses viventes aos quais chamamos de animais, formulação que ele recolhe em Bentham, um dos poucos filósofos que levantaram a questão do animal e suas implicações. Can they suffer?, Bentham pergunta. É através do reconhecimento desse inegável sofrimento que podemos nos aproximar dos animais e superar a negação que permite o atual trato da questão, abrindo espaço para a compaixão e piedade por esses viventes, para o respeito com a vida, seja lá qual for sua manifestação. A segunda proposição de Derrida diz respeito a forma defensiva com a qual a palavra animal é usada, numa generalização estultificante, que não faz justiça à enorme variedade de formas animais e à conseqüente singularidade das relações que o homem pode estabelecer com elas. Derrida retoma o Gênesis e o mito grego para entender a relação entre o homem e o animal. Do Gênesis, mostra como Deus cria os animais e depois Adão, a quem convida para nomear os primeiros, “para ver”, como se ignorasse o que a linguagem de Adão iria proferir e como se essa denominação só fosse uma etapa para o fornecimento de carne imolada que logo passaria a exigir. Já aí há uma ambivalência, pois somente o homem é feito à sua imagem e semelhança, não os demais animais. Em seguida, Deus recusa a oferenda vegetal de Caim, o agricultor, e exige o sacrifício animal de Abel, o pastor. A relação de Deus com Caim, na opinião de Derrida, é curiosa, pois Deus o repreende por não ter ele feito o sacrifício animal e, ao mesmo tempo, o consola, advertindo-o contra o pecado que estaria emboscado ali perto. Quando Caim mata Abel, fazendo com isso o segundo sacrifício “animal”, matando pela segunda vez o irmão, Deus, como que culpado por ter-lhe feito uma armadilha, o protege: “O assassinato do irmão que se seguiu data uma espécie de segundo pecado original, mas esta vez duas vezes ligado ao sangue, pois o assassinato de Abel segue, como sua conseqüência, o sacrifício do animal que o mesmo Abel soube oferecer a Deus” (p.79). É como se Deus ensinasse o assassinato e a violência aos homens. Caim inicialmente recusa-se a matar os animais e oferece frutos da terra. Ao constatar que o assassinato de animais é não só possível aos olhos de Deus, mas até mesmo preferível, Caim vê aberta a porta para o assassinato do irmão, do efetivo irmão. Já que o irmão animal poderia ser morto, o mesmo estava autorizado para o irmão homem: “Após ter caído na armadilha e matado Abel, Caim se cobre de vergonha, ele foge, errando, caçado, acossado por sua vez como um animal. Deus promete então a esse animal humano proteção e vingança. Como se ele [Deus] se arrependesse. Como se [ele, Deus] tivesse vergonha ou confessasse ter preferido o sacrifício animal. Como se ele [Deus] confessasse assim um remorso quanto ao animal. (Esse momento de “arrependimento” ou de “retratação”, de “retorno a si” - imenso problema de tradução, risco ilimitado desta semântica que deixo aqui de lado, provisoriamente - não é o único; há ao menos o momento do dilúvio, outra história de animais)”. (p.82). Derrida vê Belerofonte como mais um bom exemplo do contraste entre a mitologia grega e a visão bíblica no que diz respeito a relação do homem com o animal. Belerofonte era irmão do cavalo voador Pégaso e o grande caçador e domador de animais, aquele que matou a Quimera, o animal múltiplo. E Belerofonte é também aquele que - ao contrário dos animais - é tomado pelo sentimento de pudor e vergonha. É o que se esconde, evidenciando a importância da nudez, do sexo. Derrida não afirma, mas tudo se encaminha para concluirmos que é justo na sexualidade onde nossa animalidade mais transparece e mais nos envergonha, onde mais nos constrange a proximidade e a irmandade nossa com os animais. Nós, para sempre envergonhados e pudicos Belerofontes. Ao cunhar o termo animot, homônimo ao animaux (animais) em francês, Derrida marca mais uma diferensa. A própria palavra animaux - que remete aos animais e sua eterna falta de palavras, transforma-se em animot, que introduz a palavra no seio do animal. Penso que com isso Derrida tenta nos fazer pensar em como usamos a palavra, a linguagem, para negar nossa proximidade com os animais, usamos a linguagem como justificativa para nos afastamos desses nossos companheiros viventes. Usamos as palavras como um véu que nos cobre a pudicícia, o pudor de nossa animalidade - visível especialmente na nossa sexualidade, nossas “vergonhas”. Derrida finaliza seu texto, sublinhando que: 1) há uma pluralidade de animais no animal; as inúmeras formas destes viventes impõem diferentes relações com o homem; 2) enfatiza o animot, esse animal que fala, que somos nós homens, nossa vergonha frente ao animal, ao sexual; 3) não se trata de restituir a palavra aos animais, o que de resto seria impossível, mas repensar nossa relação com eles; somos animots, animais autobiográficos, que nos contamos nossa própria história
De minha parte, encerro com algumas conclusões talvez apressadas, impacientes, mesmo sabendo que, com isso, de alguma forma, vou contra a abertura e desconstrução propostas por Derrida. 1) Ao desconstruir o conceito de animal, propor substituí-lo pelo de vivente e terminar por criar o neologismo animot, Derrida nos propõe uma reflexão incessante sobre a relação entre a linguagem e a animalidade - atributos irreversíveis dos quais somos constituídos. Ao silencio eterno dos animais, corresponde o silencio de nosso corpo. No sexo e na alimentação as palavras muitas vezes são supérfluas, o corpo fala por si. 2) É importante pensar sobre o uso que fazemos da oposição homem-animal, pois muitas vezes atribuímos aos animais condições e características que são essencialmente humanas. A violência e a destrutividade humanas não tem paralelo no mundo animal. O atribuir ao animal condições que nos são próprias, como a crueldade e o gozo em provocar o sofrimento no outro, é o que Derrida chama de “besteira”, palavra que em francês tem semanticamente mais força, bêtise - uma ação realizada por bestas, feras ignorantes. 3) A violência que o homem exerce contra o animal não está longe daquela que ele exerce contra o próprio semelhante. A destruição do vivente animal feita pelo homem, corresponde à ininterrupta destruição do animal homem pelo homem. 4) Deve-se refletir sobre a questão da ingestão de carne. Transcenderia ela uma necessidade biológica? Atenderia muito mais à satisfação de arcaicas fantasias de ingestão do objeto amado? Diz Derrida em outro livro (“De que amanhã...” - Jorge Zahar Editor, Rio, 2004): “Mas sem fazer o elogio de um vegetarianismo primário, podemos lembrar que o consumo de carne nunca foi uma necessidade biológica. Não se come carne simplesmente porque se precisa de proteínas - e as proteínas podem aliás ser encontradas em outras coisas. Existe no consumo de carne, como aliás no caso da pena de morte, uma estrutura sacrificial, e portanto um fenômeno “cultural” ligado a estruturas arcaicas que persistem e que é preciso analisar. Provavelmente nunca se deixará de comer carne - ou como eu sugeria ainda há pouco, algum substituto equivalente da coisa carnada. Mas é possível mudar as condições qualitativas, a quantidade, a avaliação da quantidade, bem como a organização geral do campo da alimentação. Na escala dos séculos vindouros, acredito em verdadeiras mutações em nossa experiência da animalidade e em nosso laço social com os outros animais(...) acredito que o espetáculo que o homem se proporciona a si mesmo no tratamento dos animais se tornará insuportável para ele”. (p.91) (grifos meus). 4) Não devemos esquecer que a dissociação animal-homem reforça ideologicamente a religião. Haja vista a recusa do darwinismo pelo fundamentalismo religioso, que impõe restrições a sua divulgação na educação norte-americana. 5) Ao desconstruir conceitos e categorias de animal, chamando-nos a todos de viventes e animots, Derrida não apaga os limites e o abismo que nos separa dos animais. Mas mostra como o que nos é próprio fica às vezes muito pouco claro. Faz-nos encarar o enigma da vida e o respeito que lhe devemos. |
| TOP |